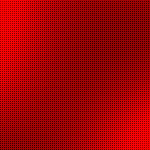Fluidez e estranheza
Crítica da peça Cachorro! de Jô Bilac, dirigida por Vinícius Arneiro

É incrível o potencial de mobilizar multidões que as encenações de textos de Nelson Rodrigues alcançam no panorama teatral carioca. O público não só comparece em peso como parece acompanhar atentíssimo o desenrolar do texto falado, respondendo prontamente em coro a cada comentário inusitado proposto pelo dramaturgo, com risos de quem recebe com prazer, compreendendo plenamente o humor ali embutido. O casal assistindo Cachorro! ao meu lado, no teatro Maria Clara Machado, no Planetário, comentava animado o desenrolar do enredo trágico, aguardando pacientemente o desfecho, e saindo do teatro ao fim da apresentação num estado que pela aparência julgo ser o de satisfação.
Tenho a impressão de que o tempo passado e a exposição repetida tornaram a recepção aos textos de Nelson bastante palatável – o público sabe o que vai assistir, já tem um julgamento prévio do que pode desconsiderar como simplesmente absurdo, e vai em caravanas. Há, sem dúvida, um sem-número de qualidades, mesmo lacunas, incompreensões, nessa dramaturgia, que a tornam extremamente atraente a cada novo olhar – mas o costume com a forma dada sem dúvida é um elemento que favorece o interesse em massa.
Vinicius Arneiro dirigiu uma montagem bastante particular do universo de Nelson. Ao invés de encenar um de seus textos, escolheu chamar Jô Bilac para produzir uma apropriação dramatúrgica, que toma como ponto de partida um esquete adaptado para o filme Traição (além de outras referências). Não está em cena propriamente o texto de Nelson, mas uma síntese bastante próxima, um trabalho perceptivelmente delicado de transformação vocabular e estrutural, sendo que um olhar menos familiarizado com sua obra talvez não repare não se tratar de original do dramaturgo. A situação básica do enredo é plenamente conhecida – o marido, a mulher, o amigo do marido/amante da mulher. A relação de confiança excessiva entre os homens, a obsessão mórbida da mulher por notícias de morte, o paradoxo do respeito pelo casamento associado à entrega à paixão descomensurada, são elementos dos mais comuns na obra do dramaturgo, assim como o desfecho trágico. A habilidade de concatenar esses elementos com personagens simples numa intriga extremamente sintética é uma característica de Nelson Rodrigues que foi cuidadosamente reproduzida pelo dramaturgista Jô Bilac.
A direção pesquisou um certo formalismo para a movimentação cênica dos atores, que engessa-os em posições corporais eretas, em direcionamentos inusuais do foco do olhar, estranhos à interpretação realista. Essa tensão corporal permanente contrasta com a fala dita de forma mais usual. Os diálogos proferidos num ritmo ágil aparecem intercalados por silêncios exacerbados, meticulosamente planejados para ressaltar o suspense presente nas situações-limite dos personagens. Em entrevista, o diretor compara esse jogo de poses e movimento, som e silêncio, a uma dança, um tango. A fluência com a qual os três atores executam tal jogo não explicita a artificialidade da técnica de construção cênica, ao contrário, envolve o espectador no seu ritmo. Os atores não constroem tipos rodrigueanos – no sentido caricatural de tal acepção – e a propriedade com que proferem o texto e executam a movimentação acaba por envolver o espectador numa espécie de ilusão de realidade. O ritmo estacado transmuta-se na percepção de um fluxo contínuo.
Embora saia do teatro satisfeito por ter presenciado um espetáculo muito bem executado, experimento, ao mesmo tempo, uma espécie de fastio. Um grupo jovem se propõe a reformular o texto de Nelson: minha expectativa é de que fique explicitada ao menos a tentativa do diálogo, e não que eu assista a uma repetição do Nelson conhecido. Quando assisti o espetáculo na primeira temporada, o panfleto do Sesc Rio mostrava uma foto (reproduzida acima) com três sujeitos que, na minha leitura, aparentavam frustração, tédio, cansaço, acompanhada por um pequeno texto relatando o desejo do grupo de falar sobre estar em 2007, dialogando com Nelson. Fiquei esperando uma provocação a esse dramaturgo, algo que de alguma forma me tirasse da cadeira, gerando estranheza ao invés de fluidez. Talvez a montagem pudesse me inspirar raiva ou mesmo me mobilizar profundamente, reações provocadas pelo próprio Nelson nas primeiras encenações de seus textos. Ao contrário, me senti apaziguado, homogeneizado. A questão que proponho é se “trazer para 2007″ não está aqui mais próximo de facilitar do que de problematizar. Não há dúvidas acerca do apuro do trabalho, mas pergunto-me se o sucesso de público e o reconhecimento generalizado estariam antes apontando para o quanto o trabalho não quebra paradigmas em relação à representação de Nelson Rodrigues. Acredito que falar de agora, pensar numa reformulação dramatúrgica a partir de um autor do século passado, como o grupo se propõe a fazer, poderia ser efetivamente tirar as coisas do lugar e ver onde ainda cabem, em vez de afirmar que continuam as mesmas.
Vol. I, nº 1, março de 2008