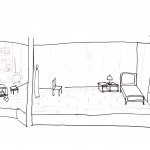Dramaturgia da alteridade
Conversa com o grupo Foguetes Maravilha

HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Para a gente esquentar, queria perguntar como se deu a parceria entre vocês e como isso chegou à ocupação de agora, do Foguetes Maravilha no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto. O primeiro trabalho de vocês juntos foi o Ele precisa começar?
FELIPE ROCHA – Vou contar a minha parte da história. Eu há muito tempo tinha vontade de escrever um texto. Eu estava numa turnê, tinha tempo, daí eu escrevia. Tinha vontade de montar e chamei o Kike [Enrique Dias], com quem eu trabalhava há muito tempo, pra dirigir, mas ele estava muito ocupado. Como eu tinha muita clareza do que eu queria falar, eu achei que seria complicado, estando em cena, dar para um outro diretor que de repente me propusesse uma coisa muito diferente daquilo. Então, achei que talvez o mais legal naquele momento fosse que eu mesmo dirigisse e chamasse alguém para colaborar. Eu e o Alex, a gente já se conhece há muito tempo. Na época que ele chegou ao Rio, ele foi fazer aula com a Dani Lima, que é minha mulher, e trabalhou muito tempo com ela. A gente fez um trabalho com um inglês, o Roberto Pacitti, que esteve aqui, acho que no Panorama…
ALEX CASSAL – Foi, foi no Panorama em 2005, talvez.
FELIPE ROCHA – Nesse trabalho, um ficou gostando muito do que o outro propunha. Então, foi natural convidar o Alex para ser esse interlocutor. Durante o processo, ficou claro que ele estava dirigindo a peça, era mais do que uma interlocução. A ideia, na verdade, era essa peça que a gente não sabia no que ia dar. Eu, quando comecei a escrever, falei que precisava escrever essa peça, nem que eu montasse no quintal de casa para os meus três amigos. Mas aí, conseguimos uma pauta no SESC e a coisa foi caminhando. Surgiram os convites para fazer o Palco Giratório e a temporada em São Paulo. No meio do Palco Giratório, em 2009, depois de ter estreado em 2008 a gente foi para Lisboa com o Tiago Rodrigues, do grupo Mundo Perfeito. Chegando lá, uma das coisas que fizemos foi o Cartão de visitas: eram quatro artistas brasileiros e três portugueses, cada um fazendo um pequeno solo para que a gente se conhecesse e o público do teatro soubesse que artistas eram aqueles que estavam chegando. Calhou de eu e Alex ficarmos juntos e a gente fez o que estamos montando agora no Sérgio Porto, com o nome de 2 histórias, que são dois exercícios teatrais independentes, mas que ficamos felizes de ver que tinham um ponto de conversão. Então, no meio do Palco Giratório, a gente já tinha feito o Ele precisa, tinha o 2 histórias embaixo do braço e eu acho que já tinha escrito o Ninguém falou que seria fácil…
ALEX CASSAL – Isso foi no segundo semestre de 2009.
FELIPE ROCHA – Nós já íamos montar essa peça e falamos: “Bom, vamos dar um nome pra isso”. Sem a gente premeditar, já tinha uma sensação de sequência se estabelecendo.
ALEX CASSAL – Até pra gente participar dos eventos e festivais, as pessoas perguntavam qual é o nome do grupo. Às vezes botavam o nome de um ou do outro.
FELIPE ROCHA – Na lombada do DVD do Ele precisa, o que íamos colocar? Felipe Rocha e Alex Cassal ficava uma coisa meio… A coisa do grupo é bacana, ainda mais agora com essa ocupação no Sérgio Porto, o nome reverberou entre as pessoas. Acho que no próximo projeto nosso as pessoas já reconhecem e associam como o que já aconteceu e dizem “não vou mesmo” ou “que legal”.
ALEX CASSAL – Quando a gente estava acertando a ocupação do Sério Porto, com o Joelson Gusson e a Dani Amorim, os dois falaram do nome do grupo e chamou atenção termos um nome. Antes tínhamos feito um nome só pra botar na lombada do DVD, pra ter uma identificação. É engraçado como parece que vai indo meio a posteriori, os projetos vão aparecendo enquanto a gente está caminhando com as coisas.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Tem uma outra história em comum entre vocês que é a dança e o circo. O que é que dessas diferentes linguagens ainda hoje é usado na dramaturgia de vocês, como vocês fazem a intercessão disso?
ALEX CASSAL – Um ponto comum de intercessão de linguagem entre Felipe e eu, me parece, é que a gente não separa muito o que é o quê: a gente está fazendo um espetáculo de teatro e, agora, isso é uma participação de dança. No meu caso, eu comecei no teatro, passei pelo circo e finalmente cheguei à dança, foi meio natural, quase tudo me pareceu ser uma consequência de estar querendo fazer teatro, de buscar nessas outras linguagens um teatro que me interessava fazer. A dança particularmente, desde quando eu comecei a trabalhar com a Dani Lima. Quando eu cheguei ao Rio, fiquei um tempo tentando fazer teatro, dirigir, trabalhar como ator, e eu não achava um lugar. Dizia: “Para as coisas que eu quero e sei fazer, não acho um interlocutor, não acho território onde eu possa me mover”. Aí quando eu comecei a trabalhar com a Dani, com o Gustavo Ciríaco, com a Denise Stutz, eu disse: “Uau! Aqui é onde estão fazendo o teatro que eu quero fazer” – no que se chama dança contemporânea. Quando a gente começou a trabalhar – o Felipe também tem uma passagem longa e consequente pela dança contemporânea, dançou com muita gente – era meio natural que viesse sem que a gente colocasse como uma proposta: “Vamos fazer espetáculos que misturam dança e teatro”. No Ele precisa tinha uma coisa particular da gente dizer: “Aqui vamos colocar uma cena de dança”.

FELIPE ROCHA – Em relação a essa coisa da dança, tem uma coisa gostosa. O texto, ele leva a gente para um lugar, às vezes racional, de você entender: “Eu codifico aquele som em palavras, em conceitos”. A dança, a música instrumental e as artes plásticas têm essa coisa que é mais… É obvio que também são signos que estou reconhecendo, e é óbvio que a linguagem falada também pode ser absolutamente livre e evocativa, mas tem essa coisa gostosa de levar por um lugar outro. Acho até que por um engajamento, fisicamente. Nas peças que eu faço, a impressão que eu tenho é que na hora que o corpo se mexe é como se trouxesse uma presença do ator. Enquanto espectador também, pra mim é prazeroso ver as pessoas se mexendo e ver o que o corpo tem pra falar.
ALEX CASSAL – Eu tenho essa sensação também. Isso do teatro, que vem de uma tradição de estar apoiado no texto, na fala, e esse momento no qual a gente abre uma janela para outros lugares – seja só de movimento, ou de som, ou de uma imagem que fuja da legenda, da narração que o texto dá – é uma maneira de acordar o espectador, ou de chamar a sua atenção para um outro lugar, diferente daquele ponto em que ele está focado, no que as pessoas estão dizendo. E aí ele vai trabalhando, entendendo: “Ah! Ele está dizendo isso para… Opa, tem algo aqui que eu não tinha entendido e tenho que chegar mais perto, aguçar minha audição para perceber aquilo”.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Você parecem questionar os lugares em si, dentro da própria história, às vezes. No Ninguém falou que seria fácil, o pai que assume o papel da filha, está com a mãe, trocando de lugar o tempo inteiro. No Ele precisa começar, há uma troca entre a Fátima fictícia para a Fátima espectadora que se oferece para ficar no lugar dela. Há sempre uma quebra da imposição de lugares, parece que vocês trabalham também nesse nível. Como é que se dá isso, no nível da dramaturgia? Como vocês organizam isso?
ALEX CASSAL – Uma piada recorrente entre nós é sobre as nossas referências, que são de baixíssima extração. Tipos Os Trapalhões. Quando a gente fica discutindo dramaturgia e o Felipe fica discutindo Racine e Shakespeare…
FELIPE ROCHA – Eu!?
ALEX CASSAL – Eu digo: “Tem um número da revistinha do Super-Homem…”
FELIPE ROCHA – O Super-Homem Mau é um clássico! Não tem uma peça que o Super-Homem Mau não venha…
ALEX CASSAL – Ou uma coisa clássica de história em quadrinho e de desenho animado é encontrar o autor. Mônica e Cebolinha têm muito isso da mão do Mauricio de Souza desenhando.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Eles pulando da revistinha…
ALEX CASSAL – Totalmente. Isso desde criança, da minha relação com esses veículos de literatura, de história em quadrinho, de desenho animado, de TV ou de cinema. Eu sempre achei muito saboroso o autor que me aponta a presença dele fisicamente: uma mão que de repente aparece ali; ou deixando claro que ele está editando aquela história sim, que ele está fazendo a história avançar, mudar, que ele está substituindo um personagem por outro. Acho que tem um efeito que me interessa muito. É de novo tirar o espectador do lugar passivo, daquele lugar do “Eu vou me deixando afundar numa poltrona no escuro e aquilo vai só chegando em mim e eu não preciso fazer nada”. No momento em que alguma coisa não encaixa, se passa em cima de um quebra mola, dá uma sacudida e fica aquele “Ué?”. As pessoas têm que se localizar de novo. Eu acho isso uma coisa salutar. Como o Felipe falou da dança pra ele, é uma coisa que eu como espectador gosto e que me instiga como criador também, dá vontade de propor outros diálogos.
FELIPE ROCHA – Em relação à troca de lugar, tinha uma coisa que a gente falava no Ninguém falou que seria fácil, que era certa relação com o sonho. Porque no sonho a gente tem essa liberdade de se deslocar muito rapidamente de um lugar para o outro sem precisar questionar. Essa coisa é o barato do teatro, do público estar disponível para qualquer combinação que a gente fizer. Então, se a gente disser que, pra essa entrevista, eu estou vestido de palhaço, o Alex de bailarina e você de soldado, sei lá, as pessoas dizem “Ok”, e daí as coisas vão acontecendo. Acho que tem essa disponibilidade de ir para os lugares. Engraçado isso que o Alex falou de metalinguagem. Pra mim, isso foi sempre muito forte. Tem um lado que traz para uma coisa racional de algum jeito. Então tá ok que está acontecendo isso, mas tem um autor que está operando isso, a gente está num teatro. O tempo inteiro falamos do estar no teatro como sendo um hiperrealismo, uma vontade de ter uma relação mais franca possível. No início, tinha aquele teatro todo pra fora, e vem Stanislavski, Tchekhov que dizem: “Não, a vida é isso aqui… mais perto.” E a gente vai chegando mais perto da vida. No momento em que a gente fala que está no teatro, tem um autor que escreveu, tem os atores e espectadores, é um jeito da gente ser ainda mais verdadeiro. Mas, por outro lado, é como se o afeto também desse uma abalizada num fluxo mais livre. Quando a gente entra num cinema, naquela caixinha preta, e embarca naquela história, é um barato interessante também.
ALEX CASSAL – Me instiga pensar o metateatro não só como a discussão das questões teatrais, não só como um teatro corporativista: estou falando do ofício do teatro – como é a dramaturgia, qual é a função do ator…
FELIPE ROCHA – É, isso é muito chato!
ALEX CASSAL – Pode ser mais ou menos. Pode até ser super saboroso, um A rosa púrpura do Cairo, que está discutindo o fazer cinema, o ator de cinema e todos aqueles papéis. É uma comédia romântica deliciosa.

FELIPE ROCHA – E é delicioso o quanto a gente se envolve emocionalmente naquela operação.
ALEX CASSAL – No Ele precisa parece que a operação metateatral foca no teatro mesmo, porque a gente nomeia: é um autor; ele está escrevendo uma peça. Ela coloca mais essas legendas que dizem que aqui se trata do teatro. No Ninguém falou que seria fácil tem isso também, um dos atores fala para o público: “Que bom que vocês saíram de casa e vieram para aqui”. Ao mesmo tempo, me parece que ali é uma maneira de dizer que os espectadores também são parte daquela história, quase o efeito contrário do A rosa púrpura.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – De trazer o espectador pra dentro?
ALEX CASSAL – É, é dizer que o espectador faz parte dessa história, a cena do encanador é muito isso.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Vocês usam bastante esse recurso de ter uma cumplicidade do público. Parece que o trabalho de vocês, cada uma das três peças a seu jeito, não é para mostrar alguma coisa é para compor com a cumplicidade do público uma determinada história. Como é que se conta com essa presença do público antes de se ter o público?
ALEX CASSAL – O Ele precisa foi um divisor de águas para pensar isso. Quando o Felipe me deu o texto pra ler, em finais de 2007, o texto tinha dois terços escritos, e já tinha a operação principal: trazer um espectador para fazer parte do espetáculo. Isso me excitou muito. Dá vontade de experimentar. Será que dá pra fazer isso? Será que a gente tem como trazer o espectador como um ato voluntário? Não aquela coisa de cena de plateia que você joga um foco de luz lá e força o espectador a assumir esse papel. É um espectador que vai escolher estar ali. Virou parte do texto, o Felipe falar: “O que você fizer tá bom, se você não fizer nada vai ser bom, se você fizer o que quiser vai ser bom”. Era muito instigante pensar isso, a relação do artista e o espectador. No processo de ensaio a gente viu como é que funciona. Numa primeira fase, nós da equipe testávamos esse procedimento: eu muitas vezes, a Estela Rabello, que foi nossa assistente de direção, a Thiare Maia que por muito tempo estava com a gente. Depois chamamos mais pessoas para ver como é que é. Fomos descobrindo.
FELIPE ROCHA – Teve um dia com a Eleonora Fabião que foi ótimo. Ela teve a generosidade de fazer o que uma espectadora absolutamente ativa poderia fazer. Ela falava o tempo inteiro e repetia tudo que eu fazia. A gente tinha uma fala que era: “Você pode fazer o que você quiser”…
ALEX CASSAL – Dava várias sugestões: “Você pode falar, dançar, correr, gritar” e ela, de fato, fez tudo que havíamos sugerido.
FELIPE ROCHA – Depois desse ensaio nunca mais falamos isso. [Risos] Tem um lado que é de projeção, que você está escrevendo e imaginando o que vai acontecer, mas tem esse lado prático de descobrir, no caso do Ele precisa, como é que a gente vai chamar essa pessoa. Chegamos nesse lugar, que eu acho interessante, que a gente fala: “Ele vai querer que um de vocês troque de lugar com a Fátima”, que é a personagem, e eu começo a dançar, meio que esperando, dando pistas. Não seria a gente se pegássemos uma pessoa da plateia, era importante que a pessoa se oferecesse. Com um cuidado muito grande, às vezes abrindo mão de piadas preciosas que exporiam a pessoa, ou que diriam que eu estava esperando que você fizesse de um jeito e você fez de outro. O tempo inteiro, o barato da peça é aceitar o que vem dessa pessoa. É legal ver quando a pessoa é muito ativa, é super prazeroso. E quando a pessoa não é, também. Porque nós pegamos aquele corpo emprestado e projetamos nela todas as ações que estão sendo descritas.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – E reafirma também esse acordo o tempo inteiro. Você sempre pergunta se está confortável, se quer sair, se quer ficar…
ALEX CASSAL – Sim!
FELIPE ROCHA – É legal a pessoa ir como se estivesse pulando no escuro. Nessa situação, a pessoa fica tateando e todos nós também, isso é que é legal. Como o convite se dá para o público inteiro, o público inteiro se vê naquela pessoa, “Ah! Se fosse eu”, “eu estaria fazendo aquilo”, “Graças a deus que eu não fui”, “Puta, que merda que eu não fui”, mas tem um cuidado e um respeito muito grande.
ALEX CASSAL – A gente vai atualizando, tinha isso da gente ir ensaiando e chamando amigos e até a estreia tinha uma incógnita – vai acontecer? – ou a cada três apresentações, duas não vão acontecer? Sobre a questão de se ninguém se oferecer, pensamos muito antes de estrear, quais seriam as estratégias de sedução…
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Chegou a acontecer?
ALEX CASSAL – Nunca aconteceu nesses três anos, provavelmente, se a gente continuar se apresentando por muito tempo, em algum momento aconteça. O que dá uma curiosidade de ver.
FELIPE ROCHA – O que já aconteceu, no Palco Giratório, foi a pessoa do SESC ficar aflita e ela se oferecer. Eu acho que num medo ela pensa: “Putz, logo na minha unidade não vai ninguém”. [Risos] E às vezes até vem cedo. Calma, a gente toca uma música inteira…
ALEX CASSAL – É muito variado, essa coisa da Fátima. Tudo já aconteceu. É muito dividido entre homens e mulheres, apesar de ser uma personagem feminina. Ou pessoas que não fazem nada, não dizem uma palavra, é quase um ícone representando a personagem, só fica sentada e o Felipe vai descrevendo a história. E outras com pessoas que tocaram o rebu, pessoas muito, muito ativas. Eu acho isso muito valioso. Adoro o Ele precisa começar, acho um texto muito afiado para discutir o que ele se propõe a discutir. Essa metáfora que a Fátima encarna, eu acho muito bonito, por que é justamente isso: ela encarna uma metáfora. Essa coisa de algo que eu tenho que começar e não sei onde vai dar, esse salto no escuro é o papel da Fátima. Quando a gente começa um trabalho e questiona se vai dar certo, se vai chegar até o fim, e um espectador com uma coragem, uma generosidade tremenda se dispõe a ir lá e fazer isso. Já passamos por coisas como, no Nordeste, um homem cego se ofereceu para fazer. Foi uma apresentação lindíssima. Ele se divertindo, com uma disponibilidade de brincar com aquilo…
FELIPE ROCHA – De brincar consigo próprio. Tem uma hora que a Fátima dirige e ele pergunta: “Tem certeza?”, eu digo “Tenho!” e “Qua, qua, qua!” Ele adorando dirigir. Assim que a gente subiu no palco, dei um tour com ele, pra ele ver onde tava e tal, aí ele passa pela mesa de pelúcia e diz: “Essa mesa é meio fresca”. Hilário! Depois, em Brasília, a gente teve seis Fátimas ao mesmo tempo, parecia um polvo com tentáculos. Elas tinham uma organização própria. Teve de tudo, um cara que fez o super-café; várias vezes uma pessoa da plateia vem e faz a pessoa da plateia que sai no meio; pessoas que falam e que gritam, que comentam. É muito gostoso. E a gente tem que lidar com isso. Às vezes as pessoas realmente perdem a mão e é gostoso também trazer de volta, dizer um pouco qual é o tom. Até no Ninguém falou que seria fácil, tem umas seções que começam e as pessoas riem muito, parece que elas estão numa outra peça e, com a própria peça, a gente vai achando junto… – não que eu ache que tenha que dizer como a plateia tenha que se comportar, a impressão é de que a gente vai achando junto uma mesma sintonia. A gente também vai se adaptando àquela plateia.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Tem um outro nível desse intercâmbio que se dá pela imaginação. Pra mim, onde isso fica mais claro é no Historia nefanda, em que tudo se passa praticamente na cabeça da plateia. Você não dramatiza a cena que está falando. Então, você está contando com toda a plateia dessa vez, colocando toda a plateia no palco.
FELIPE ROCHA – Acho que o Paulinho Medeiros tinha falado disso, dessa peça especificamente, mas cabe para todas as outras, é como se a peça se desse entre o ator e o espectador. Eu não estou vestido com os figurinos, não estou com o cenário, sou eu com esta roupa, contando aquela história, compartilhando. Então, eu não estou vivendo tudo e o espectador também não está aos prantos, mas em algum lugar entre os dois a história acontece, ela se dá. É uma coisa que tem a ver com a literatura. Acho que é uma coisa desse trabalho, convidar o espectador para trabalhar. Acho que no Ele precisa começar tinha uma fala sobre isso: “Vocês vão ter que trabalhar”. Quando eu pensei no nome do Ninguém falou que seria fácil, acabou que as pessoas adoraram, tinha um pouco também desse lugar. Não era necessariamente você entrar e ver aquela sequência ordenada de coisas. Em algum lugar vocês têm que trabalhar. É para você operar. É como ler um poema. Alguns tipos de poema você lê e pensa: “O que o cara tá querendo?”, “Ah! Todas as sílabas começam com isso”, ou “Ele tá juntando isso com aquilo”. Qual é o jogo que está sendo proposto?
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – No Alcubierre tem o elemento da fantasia nessa estrutura também. De certa forma, você está trabalhando com imaginação, memória, memória fantasiosa e uma determinada verdade em que a plateia não sabe o que está acontecendo, qual é a versão “verdadeira”. Vocês trabalham bastante com a fantasia da memória, né?
ALEX CASSAL – O Alcubierre é uma outra perspectiva desse metateatro que a gente explora e que não necessariamente está usando essa imagem do ator, que está no palco, falando dele mesmo. Quando eu escrevi o texto para o evento em Lisboa, eu pensava muito em como eu podia discutir esse território meio nebuloso entre a ficção e a minha vida. Talvez seja algo que todo mundo tenha em alguma medida, o quanto trazemos determinados personagens – da literatura, do cinema, do que for – para nossas vidas. O quanto se recria por vontade, ou porque a nossa memória não é absoluta, coisas que já aconteceram. Tem essa vontade no Alcubierre de não completar tudo, talvez até por um certo pudor de estar fazendo uma autobiografia. Não tem que identificar tudo que está ali, a pessoa encaixa o que ela quiser, ela encaixa a sua foto nessa moldura. Isso me interessava, uma história com espaços em branco onde os espectadores possam se colocar. Eu acho que os três trabalhos têm uma coisa muito forte do poder da imaginação, de reconhecer a imaginação como uma avalanche, uma enchente que leva as coisas, que afeta a vida para além do mundo de fantasias, que não está ligada com o mundo real. No Ninguém falou que seria fácil tem essa coisa, que se relaciona com o brinquedo infantil, de uma aceitação imediata do estranho, do que não é esperado, do que não é realista. Como o casal que recebe a filha pequena, que é um ator adulto de barba, e eles se referem a isso: “Ah! Um beijinho no peitinho peludinho do bebê”. Junta as duas coisas, não tem que dizer: “Ah! Que bonito seu cachinho dourado”. O público todo está vendo que ali tem um adulto. Se a gente abre mão de um acordo a priori, de dizer que esse espetáculo é realista, então tudo vai ter uma unidade de espaço-tempo, vamos nos referir às coisas concretas e assim vai até o final. Ou esse espetáculo é um teatro do absurdo, teatro-dança, surrealista, então as coisas todas vão ser atravessadas, não vai ter nenhum momento que vai se ancorar no realismo. No Ninguém falou que seria fácil a gente dá uma trafegada, indiscriminadamente.

FELIPE ROCHA – Acho que interessa muito para nós a liberdade de podermos fazer o que quisermos, acho que o texto fala um pouco disso, dessa coisa de realmente caber tudo. Cabe o realismo, cabe o absurdo, cabe tudo. A criança pode vir e ela pode ter o peito peludo. Uma coisa não precisa chocar com a outra. Assim como essa relação com o que é autobiográfico e o que é fantasioso. Todo artista, naturalmente, vai falar o que está reverberando ali. Alguns em maior, outros em menor grau, alguns tentam disfarçar mais, outros menos. A gente fala muito do que está sentindo. No Ele precisa, eu de fato, no dia 27 de outubro, ao meio dia e meia, estava num quarto de hotel e estava querendo escrever, decidi que ia escrever e não sabia o quê. Então, falei: “Vou escrever dessa vontade de escrever”. De fato, tinha uma camareira simpática, ela era do leste europeu, mas ela não me convidou para um passeio de carro e não estava sendo perseguida por uma gangue de mafiosos romenos. [Risos] Mas essas coisas vão se misturando e tem essa aceitação de que cabe tudo. Não tem uma preocupação de dizer o que é realidade e o que é fantasia. Tudo é bem-vindo.
ALEX CASSAL – Se tem uma questão que me mobiliza na arte é essa questão com a diferença. A questão ética fundamental para a gente existir junto é como eu me relaciono com o que não sou eu. Acho que isso está muito presente nos nossos trabalhos, não como um manifesto, como uma bandeira que a gente levanta, mas está presente no diferente como algo que a gente pode aceitar.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Tem um tema que aparece, não no Ele precisa, mas nos outros trabalhos, que é o tema da família. Também com essa tônica, não de reforçar o status da família, mas como uma tentativa de trocar os lugares, os papeis. Isso faz parte dessas inquietações?
ALEX CASSAL – Eu tenho a impressão que é meio circunstancial.
FELIPE ROCHA – Essa coisa da família é uma coisa que nos toca a todos, somos filhos, alguns pais, primos, irmãos. Todos nós carregamos prazeres, angústias, faltas, buracos. No Ninguém, o pai que quer ser o filho. Estamos o tempo todo atravessados por essas coisas.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Tem uma questão que me interessa muito que é como vocês operam para juntar isso tudo, todo esse jogo da memória, imaginação, verdade, intercâmbio com o público, para que fique apresentado de uma forma tão coesa, com as amarras feitas de maneira bem responsável. Dá a impressão que é muito bem calculado, sem querer usar esse termo como pejorativo. Como vocês fazem essa engenhosidade positiva da dramaturgia de vocês?
FELIPE ROCHA – Acho que o Alex é mais engenhoso do que eu. Ele tem isso de botar as coisas em ordem. Da minha parte, não tem cálculo nenhum, é muito de estar presente. Eu, escrevendo, sou muitas vezes levado pela cena, até penso numa coisa, mas vai vindo outra e funciona muito melhor se eu seguir o que ela está propondo. No trabalho com os atores a gente está muito aterrado. Quando a gente fala que está no teatro com aquelas pessoas, isso é apostar no presente. Se a gente estiver presente em cada etapa, o que estivermos fazendo vai ser de verdade. Isso é o que faz com que possamos transitar rapidamente de um lugar para o outro e as pessoas possam acompanhar.
ALEX CASSAL – No meu caso, tem um processo que em alguma medida é bem calculista sim. Calculista até em pensar nesse momento que tem que soltar as rédeas e mergulhar na verdade ou na emoção. No Ninguém falou que seria fácil essa questão se colocava muito. Perguntávamos se estava dramático ou melodramático, se tentávamos ser mais cool, distanciado ou se deixávamos aí. Uma coisa que durante uma fase dos ensaios a gente perguntava era se fazíamos a cena mais Stanislaviski.
FELIPE ROCHA – Uma coisa legal dos ensaios é esse “A se a cena fosse desse jeito?”, mesmo sabendo que a gente não vai usar aquilo na cena, mas traz elementos…
ALEX CASSAL – Eu comecei fazendo teatro no teatro de rua com o Ói Nóis Aqui Traveiz, e teatro de rua tem uma coisa muito acentuada de você ir vendo uma reação de imediato, presente, muito mutável e fluida aos acidentes normais de um espetáculo: de uma coisa que cai, alguma coisa que é diferente, tem uma reação do espectador. Dá um impulso muito forte de lidar com isso. Como é que é se a gente trouxer o espectador para a cena? Como é que é se agora investirmos na emoção ou se sairmos todo mundo correndo para todos os lados e virar um efeito coreográfico espacial? Depois, todas as outras coisas que eu fiz sempre tiveram uma tensão consciente e positiva entre as coisas que eu quero dizer, o que eu tenho impulso de fazer e o público acessar isso de alguma forma. Não me parece que eu tenha vestido a roupa do artista maldito, sempre teve um impulso de comunicação. Eu quero que isso chegue às pessoas. Não interessa ter uma coisa que nos satisfaça, mas as pessoas digam bléblé.
FELIPE ROCHA – Uma coisa que o Alex puxa e que me chamou atenção trabalhando com o Kike no Coletivo Improviso – que é uma estrutura dramatúrgica muito múltipla e não linear – é pensar quase como música, no sentido de forças, volumes, intensidades e velocidade. Não é um cálculo, mas tem essa atenção para as dinâmicas.
HUMBERTO GIANCRISTOFARO – Queria comentar o uso do espaço cênico, que sempre é econômico, no sentido de ter os objetos e o cenário que vocês vão usar. Não tem nada simplesmente para dar uma cor, são sempre recursos. Tem uma ideia estruturada para isso?
FELIPE ROCHA – Tem sempre uma vontade de estar perto das pessoas. A gente tenta sempre sair da plateia frontal, tem sempre o desejo das pessoas estarem em volta e ser menos uma coisa para ser vista e mais uma coisa para ser compartilhada. Em relação aos recursos, até hoje a gente teve patrocínios bem pequenos e temos sempre que pensar dentro deles. Mas tem o desejo de uma leveza. Quando eu escrevi o Ele precisa eu buscava uma peça que, se eu quiser, faço agora aqui pra vocês, é um laptop, uma mesa e um cadeira. O Ninguém falou também tem isso, até tem uma porta, um lustre, mas super pode ser feito sem eles. É uma aposta maior nos atores e no contato da própria Aurora dos Campos, que é a cenógrafa, é da linguagem dela.
ALEX CASSAL – O que eu identifico é uma cenografia meio lacunar, ela não cerca tudo, não tem todos os objetos que a gente fala no texto, tem os objetos necessários para a cena acontecer. Mas ao mesmo tempo a presença, por exemplo, do lustre, dá uma ancorada no espaço, pra dizer que estamos num espaço maior do que este que estamos vendo, que pode ser mais sofisticado, com um lustre bonito. Um elemento que traz uma carga de um cenário que não está presente, mas que ele sugere que esteja. No caso do 2 histórias é bem minimalista. No História nefanda acho que tem a ver, como você falou, de que está tudo na imaginação. No Alcubierre, aquela mesa repleta de objetos é um pouco de revisitar a biografia, montar aquilo é um procedimento cênico. O cenário é parte da história, não só ilustrando, mas naquela coisa de estar montando, remontando, sobrepondo as coisas.
Informações sobre temporadas nos blogs das peças: Ele precisa começar http://www.eleprecisacomecar.blogspot.com/ e Ninguém falou que seria fácil http://ninguemfalouqueseriafacil.wordpress.com/
Humberto Giancristofaro é escritor. Formado em Filosofia pela UFRJ e Université Paris VIII, atualmente mestrando em Filosofia na UFRJ, perquisador das teorias francesas de Estética contemporânea.