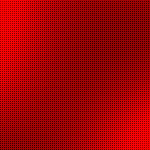Crítica agora
Boa noite a todo mundo que está aqui conosco presente[1], agradeço enormemente pelo convite. Agradeço ao carinho e às trocas que tivemos neste processo, com Jhoao Junnior, Renata Meiga, Dadado e Ronaldo. Foi muito importante pra mim conhecer e encontrar vocês neste percurso, a partir dos materiais e a partir dessas fricções que a gente está vivendo neste tempo histórico e também pelos nossos percursos.
Então, eu gostaria de comentar com vocês algumas coisas que a gente falou no processo e que penso que nesta mediação será importante destacar a pluralidade das vozes entre as equipes que produziram as cenas inéditas e o público presente. Eu vou fazer uma audiodescrição rápida pois talvez tenha alguém que não esteja me vendo. Eu sou uma mulher trans branca, tô com o cabelo castanho liso com mais volume do lado esquerdo, com um colar no pescoço. Atrás de mim, uma estante com livros, em biblioteca e do meu lado direito uma janela com vidros. Bom, estou também muito feliz de dialogar deste lugar, com as questões que foram trazidas por meio destas cenas. Que são provocativas e que eu provoquei. E que me provocam de volta e aqui eu tenho algumas questões que eu vou compartilhar com vocês no sentido de provocar novamente esse debate, essa relação, a mediação desta noite.
A medicina pode ser uma poética. A morte é uma poética. E se a gente foge do desafio artístico que é a saúde; e se a gente foge da grandiosidade cultural, artística e estética que é a morte, a gente deixa de fruir algo que é nosso. E eu percebo que nas duas obras, nós nos aventuramos em caminhos para desvendar os limites e as potências da morte. A morte tem um peso social: como a sociedade lida com a morte, reage ou traumatiza a morte, ela mata a morte antes de a gente poder morrer. Ela nos rouba o direito à morte.
A sociedade nos dá a morte de uma forma higienizada. A medicina aprendeu a fazer isso muito bem. E este é um tópico que eu tive conhecimento com a Renata Meiga. A distanásia é o oposto da eutanásia: quando a medicina prolonga a vida de uma pessoa, ainda que sem uma naturalidade como a ortotanásia. Diferente destes dois paradigmas, temos a ortotanásia, que é a boa morte. Então, o que é isso? O que a medicina está fazendo quando ela higieniza e evita o processo de morrer? Quando Renata apresenta seu trabalho, ela e Jhoao destacam este aspecto de sua abordagem, que ela é aficionada por biografias. Segundo esta prática, o foco da medicina não é apenas a vida biológica das pessoas, mas também diz respeito à vida biográfica das pessoas. Então, quando a medicina se dedica a essas páginas da vida, as quais também aparecem na estrutura da cena/filme Das águas que atravesso: um diário de vida que ancoro, é exatamente porque a gente é uma biografia.
Nós não podemos ser reduzidas a uma única cena. Em geral, somos resumidas à cena de convalescência, que é uma cena destituída de nossos lances dramatúrgicos e dramáticos que damos ao longo da vida. Então quando Renata faz questão de conhecer as pessoas, ainda que parcialmente, de onde é possível, dialogar e se envolver com as histórias, nesta doulagem da morte, ela nos convida também a apreciar. E mostra não apenas que a medicina pode apreciar a poética da vida biográfica das pessoas, mas indica que nós, enquanto pacientes, podemos apreciar a nossa morte de formas diferentes ao longo da vida. Sem esse terror que a gente acaba sendo ensinada a ter. Me parece que a morte enquanto uma poética e a ciência enquanto uma poética, são também uma revelação que estamos aqui cultuando. Para muitos povos, essas separações entre arte, ciência, tecnologia, saúde e engenharias nunca existiu, porque o que importa mesmo é a conexão profunda das áreas. A universidade recentemente descobriu esta trajetória moderno-ocidental de separação dos saberes e agora tem procurado chamar o encontro de saberes de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade ou multidiscplinaridade, buscando juntar áreas da vida que nunca estiveram desconectadas, mas que a própria universidade separou.
Neste sentido, estamos aprendendo cada vez mais que a medicina é uma poética, mas também a gente aprende que a arte é uma investigação científica profunda. Arte faz cirurgia. Arte é clínica. E a arte mata também. E é importante que a gente conheça as possibilidades dela de uma forma não romantizada, proveniente da ideia de sociedade que a gente comprou. E estas cenas nos levam a uma reflexão muito profunda sobre nossas vidas e nossas pertenças.
Vamos falar um pouco do desafio de ser rotulada com a morte, o que esteve bem evidente na cena O futuro não é depois: uma performance palestrativa sobre Cazuza e Herbert Daniel, de Dadado e Ronaldo, quando trataram da especulação toda que se tornou o HIV/AIDS no Brasil e em todo o mundo, antes e hoje que vivemos uma outra pandemia. Eu tenho uma vivência que me conecta visceralmente a este rótulo da morte que é a minha vivência trans. E eu nunca posso deixar de dizer que eu estou vivendo talvez não um pós-morte, mas o pó da morte. Pois o pó da morte é o que resta da morte pra mim. A expectativa de vida da minha população é de 36 anos. Semana que vem eu completo um ano de pó-morte (faço 37). Isso tem me revelado muitas coisas. Tenho aprendido que, se meu corpo e minha presença, as minhas criações (e quando eu falo minhas, também estou me referindo às nossas, da população trans) não são bem-vindas nos espaços, vivemos constantes ameaças. E não apenas a ameaça de morte, esta ideia de “ameaça de morte” que o senso comum costuma compreender este fenômeno. Trata-se de toda amolação de faca que vem do processo de genocídio e preconceito social.
Neste caso, nós naturalmente estudamos o fim. Daí olhamos para nossas experiências de pó da morte como vivência do fim. E pudemos ver desdobramentos desta noção na cena de Ronaldo e Dadado. Essas outras possibilidades de compreender do tempo. Quando a gente vive o estudo do fim, a gente naturalmente pesquisa o tempo. Descobrimos outras formas do tempo funcionar. O tempo de quem vive com HIV, o tempo de quem é trans, não é linear. Por isso a gente aprende que há outras formas de criar as narrativas, as quais a medicina não dá conta. As quais a sociedade, de uma forma geral, não dá conta.
No processo de provocação com Jhoao e Renata, formulei um termo que foi muito significativo. Eu não sabia que Renata era médica. Jhoao me apresentou a Renata como uma dramaturga. E ela é. Ela conta, tece histórias e desenvolve-as. Daí propus a palavra dramédica para observarmos esta configuração. A medicina enquanto poética, a medicina enquanto dramaturgia. Este lugar que Renata faz com maestria e que a gente tem a aprender, a desvendar. Fiquei pensando muito na medicina enquanto poética. E talvez possamos pensar no hospital enquanto um edifício teatral. E talvez a mesa de cirurgia como o nosso palco, nosso lugar de realização das ações clínico-cênicas.
Eu queria falar um pouco do fim, já que ele é tão importante na relação entre as duas cenas e porque também o estudamos no processo criativo a partir de leitura de textos. Eu tenho estudado muito o fim[2]. Acho importante destacar um caso emblemático, de 2016, no contexto do golpe que tirou a nossa presidenta Dilma do governo federal. O Felipe Miranda, que é um investidor financeiro de São Paulo, criador da Empiricus, lançou um manifesto este ano chamado “O Fim do Brasil”. Ele não só enriqueceu, mas ele passou, com este manifesto, a ensinar milhares de pessoas a se tornarem milionárias. Procurarem este enriquecimento a partir deste fim do Brasil, desta morte econômica do Brasil.
O capitalismo e a nossa estrutura social atual usam o discurso do fim como uma forma desesperadora de vender mais. A morte participa deste discurso. A medicina incorpora essa vendabilidade do fim ou incorpora a evitabilidade da morte como uma forma de se fazer valer enquanto uma autoridade na sociedade. Então a medicina ganha a sua autoridade social com o discurso de preservar a vida e evitar a morte. É por isso que a vendabilidade do fim tem um diálogo com a vendabilidade da morte. Estas cenas nos remetem a uma recusa a esta vendabilidade, tal como podemos ver no pensamento de Ailton Krenak e a sugestão de um dos seus livros O amanhã não está à venda. Nós nos recusamos a vender o amanhã. Nós podemos pensar como que essa visão de futuro em que a única possibilidade é o fim deixe de ser um fimturo e nos lance, como Linn da Quebrada diz, a um principício. Inícios são precipícios, onde a gente se joga.
Então, se a gente está vivendo várias situações em que o vírus está entre nós, e se ele está entre nós, ele é nosso. A última cena terminou pra cima, em alegria, o que me desafia a trazer um olhar crítico neste momento, depois desta sensação de festa. Mas é isso, depois a gente festeja de novo. Eu fico pensando como a gente desenvolve essas permanências, estes estados de coletividade para o absurdo. Já que o Bra$il se escreve com o cifrão ($) e a Aid$ também, estamos falando sim de uma morte do Brasil. Mas é uma morte do Brasil para aquelas pessoas que nunca tiveram o Brasil, para as pessoas que são apátridas. A morte é um desafio para a ideia de nação. E a medicina não estuda a política.
A medicina deveria estudar um pouco da política para entender o quanto está amalgamada em suas estruturas clínicas uma perspectiva de política. Esta perspectiva vai levar a um colapso deste sistema. Precisamos entender que essa situação de morte enquanto ser apátrida é algo que também é um assunto médico. Aqui podemos referenciar novamente a ideia de “morte civil” elaborada pelo Hebert Daniel e trazida como um elemento de estudo do processo da performance palestrativa.
Bom, agradeço imensamente por todas as trocas que tivemos aqui. E queria dizer que quando a barqueira Renata encontra o rio que é o Jhoao, que é pura água e água pura, de puro rio, é um encontro que navega em rio e mar, ali no Guarujá. Que essas nossas oceanidades, nossos atravessamentos e atravecamentos, nos levem para outras pontes, outros lugares. Ontem eu participei da audição do novo EP da Linn da Quebrada, Trava-Línguas, e tem uma frase na música “Eu matei o Júnior” que acho muito linda e que dialoga muito com este encontro do Jhoao com a Renata que é “E se trans for mar, eu rio” ou “E se transformar, eu rio”. E nesse atravecamento do rio com o mar, nessa risada de se transformar, o rio como um rir também. Obrigada!
E foi um encontro muito gostoso e completamente performativo, não apenas na apresentação das cenas, mas no processo, nos ensaios. Estar com Dadado e Ronaldo, que admiro, foi muito bom. A ancestralidade bixa, como eles nos provaram, não é só um olhar sobre o passado, é também um olhar entre pares. Eu vejo a ancestralidade do Ronaldo no Dadado e vejo a ancestralidade do Dadado no Ronaldo, e vocês souberam nos mostrar isso no jogo de cena de vocês, mostrar que ancestralidade também é entre pares, na vida, no momento em que você desenvolve. Obrigada por vocês terem me ensinado isso!
Notas
[1] Transcrição baseada na sessão online de 16/07/2021 do Cena agora – Arte e ciência: corpos reagentes, existências em crise, do Itaú Cultural onde foram apresentadas as cenas: 1) Das águas que atravesso: um diário de vida que ancoro, com direção de Jhoao Junnior e atuação da médica Renata Meiga; e 2) O futuro não é depois: uma performance palestrativa sobre Cazuza e Herbert Daniel, do diretor, dramaturgo e ator Fabiano Dadado de Freitas e o dramaturgo Ronaldo Serruya. A mediação da sessão e a provocação dos processos foram realizados pela performer e pesquisadora Dodi Leal.
[2] Ver LEAL, Dodi. Fabulações travestis sobre o fim. In: Conceição / Conception – Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Unicamp, v.10, n.1, pp.1-22, 2021.
Dodi Tavares Borges Leal é professora do Centro de Formação em Artes e Comunicação (CFAC) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Porto Seguro. Realiza estudos e obras artísticas de performance e iluminação cênica, perpassando por ações de crítica teatral, curadoria e pedagogia das artes. Doutora em Psicologia Social (IP-USP) e Licenciada em Artes Cênicas (ECA-USP). Autora do livro de poesia De trans pra frente (São Paulo: Patuá, 2017) e dos livros teóricos LUZVESTI: iluminação cênica, corpomídia e desobediências de gênero (Salvador: Devires, 2018) e Pedagogia e Estética do Teatro do Oprimido: marcas da arte teatral na gestão pública (São Paulo: Hucitec, 2015). Organizou o livro TEATRA DA OPRIMIDA: últimas fronteiras cênicas da pré-transição de gênero (Porto Seguro: UFSB, 2019) e co-organizou, juntamente com Marcelo Denny, o livro Gênero Expandido: performances e contrassexualidades (São Paulo: Annablume, 2018).
Vol. XIII nº 72, setembro a novembro de 2021
Se você aprecia o trabalho da Questão de Crítica, faça parte dessa história colaborando com a gente no Apoia-se! Com essa campanha, firmamos uma parceria com o Foco in Cena, unindo nossos esforços pela memória e pelo pensamento sobre as artes cênicas no Brasil. Junte-se a nós e ajude a compartilhar! apoia.se/qdc-fic