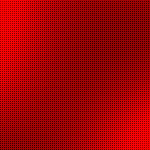Três palavras, três maneiras
Crítica de Três maneiras de tocar no assunto, de Leonardo Netto
Garotos
Uma das minhas primeiras experiências de ataque homofóbico foi na rua, sozinho, pego de surpresa. O tapa foi na base da cabeça, um pouco acima da nuca. Logo em seguida, um soco no ombro direito. E um empurrão que me fez dar um passo forçado adiante, para não cair no chão. O ataque físico não foi grave, ficou só o tal do “susto” – sensação que está na minha cabeça até hoje. Coração aos pulos, eu tentava simular algum tipo de valentia, enquanto analisava em poucos segundos se deveria correr ou não. Os três garotos passaram por mim e foram embora, rindo, enquanto olhavam para trás.
Independente da gravidade, acho que qualquer experiência desse tipo mostra como o mundo pode ser perigoso para a população LGBTQI. Mas não só isso: o perigo existe e é acompanhado de crueldade. Trata-se não só do desejo de eliminação do diferente, mas de fazê-lo com sadismo e, de preferência, na frente de outros. Não só o exercício da força, mas o exibicionismo público dela.
O primeiro ato de Três maneiras de tocar no assunto, peça dirigida por Fabiano de Freitas, texto e atuação de Leonardo Netto, é uma exposição professoral que associa o bullying escolar à tortura. Raramente vemos esse tipo de associação, talvez pela nossa dificuldade de reconhecer que o espaço escolar possa ser um lugar de aniquilação sofisticada do outro. No entanto, essas violências acontecem todos os dias, e a peça nos mostra exemplos de como a criatividade dos nossos jovens é empregada no massacre físico e psicológico daqueles que são diferentes, geralmente com ataques coletivos e em espaços públicos, misturando ambientes reais e virtuais.

Classificar crianças e jovens como torturadores é menos uma tentativa de criminalizá-los do que uma forma de chamar atenção para um problema recorrente: frequentemente infantilizamos agressores como forma de encobrir seus atos perniciosos. Jair Bolsonaro, atual presidente da República, afirmou não ser correto usar o “garoto”, seu filho Flávio, para atingi-lo politicamente. O “garoto”, no caso, o senador eleito pelo PSL-RJ Flávio Bolsonaro, já foi flagrado defendendo o fechamento do STF e é atualmente investigado pelo Ministério Público por movimentações financeiras irregulares.
Garotos e garotas podem ser corruptos, assassinos, torturadores e perversos. Devemos aceitar isso não tanto para que sejam punidos em praça pública, mas para que nos conscientizemos de que suas ações têm consequências reais, não são travessuras. Os jovens que queimaram o líder indígena Galdino de Jesus dos Santos pensaram que ele era “apenas um mendigo”. Queimar pessoas não é uma traquinagem.
Certa vez, em sala de espera de consultório médico, presenciei uma conversa animada por críticas ao atual Presidente da República. Uma senhora então pede o fim da discussão, porque “ninguém deixa ele governar, tadinho”. Um ano depois, o “coitadinho”, em abril de 2020, quando questionado acerca do número recorde de 474 brasileiros mortos em um único dia, devido à pandemia da COVID-19, respondeu a jornalistas: “E daí?”.
Pedras
Em uma das primeiras paradas gays da minha vida, a sensação era de confusão e deslocamento. A parada gay é um misto de festa e ativismo, orgia e discurso político, e essa efervescência social pode deixar muitos desnorteados. É certo voltar bêbado de um ato político? Indo para casa um pouco trôpego, seguia um amigo e o seu “boy” pelos longos corredores do metrô. Eles estavam de mãos dadas. Não faz muitos anos que vemos casais LGBTQI+ dando mãos nas ruas. Eles são poucos, e naquela época eram menos ainda.
No ato simples de dar as mãos no metrô, mesmo que por poucos minutos, percebi como a parada gay poderia ser o catalisador micro e macropolítico de mudanças sociais. Naquele momento, reconheci como a parada dava para nós, nem que fosse por um dia, o direito de andar de mãos dadas na rua. Esse gesto era garantido precisamente por aquele todo compósito de drags, barbies, intelectuais e políticos, que forçavam (ou explodiam) as convenções sociais e institucionais para que a massa pudesse ter o direito de dar as mãos na rua.
É por isso que a parada gay existe, pensei. Naquele dia, dar as mãos significava não recuar, não esconder. Um ato simples, mas que hoje vejo como a pedra na vidraça do Stonewall Inn, jogada pelo personagem do segundo ato de 3 maneiras de tocar no assunto. O narrador, fã de Judy Garland, fora ao Stonewall para comemorar seu aniversário, e acabou no confronto histórico entre policiais e a comunidade LGBTQI, que eclodiu depois de uma batida policial no bar.

Ao jogar a pedra no Stonewall, sitiado por policiais que mantinham pessoas reféns dentro do bar, o narrador fala do sentimento sublime de ser, pela primeira vez, aquele que avança e não o que recua. “Conseguimos”, ele pensa triunfante, em meio aos destroços de um dos eventos mais simbólicos da causa gay mundial. Com esse testemunho ficcional de 3 maneiras de tocar no assunto, vejo mais uma vez como somos todos tributários de Stonewall, porque ali temos um marco, espécie de ritual de iniciação em que aprendemos a não recuar.
Logo em seguida, infelizmente, o mesmo narrador reconhece: “conseguimos, mas vamos pagar caro por isso”. Sim, realmente. Mas os ritos de iniciação são atos que fundam uma complexidade de forças, contraditórias e aporéticas. Eles descortinam horizontes, mas também nos ensinam sobre os perigos da vida. Voltamos a esses marcos para relembrar o que fazer e o que nos ameaça. Hoje, ando de mãos dadas na rua com o meu companheiro e acho que essa é a minha pedra. Mas nunca deixo de olhar para trás e para os lados.
Gravatas
O terceiro ato de 3 maneiras de tocar no assunto é um recorte de pronunciamentos e discursos de Jean Wyllys na Câmara dos Deputados, entre 2011 e 2018, período em que atuou como deputado federal. No conjunto dos três monólogos, a figura de Jean Wyllys assinala um momento supostamente mais sólido da militância gay, marcado pela entrada nas esferas institucionais e na cultura oficial. Ou seja, marcando presença no congresso nacional, nas urnas eleitorais e nos projetos de lei.
Vestido de terno e gravata, comprovada atuação nos meios intelectuais, legislativos e culturais, Wyllys nos passa a impressão de que, finalmente, algumas coisas não têm volta. No Congresso Nacional, ele não só teria resguardado seu direito de expressão e de atuação legislativa, como também teria sua integridade física e moral amparada pelo decoro parlamentar. Tratando-se de um homem cisgênero, sabemos, claro, que a representatividade ainda tem muito a caminhar; mas seria de se esperar que a presença de Jean Wyllys nos espaços oficiais, iluminados pela jurisprudência das instituições republicanas, teria eliminado de vez os fantasmas do bullying e da clandestinidade social – ao menos na sua vida pública como parlamentar.
Em 2019, Jean Wyllys renunciou a seu terceiro mandato como deputado federal. Ameaças de morte, linchamento virtual e fake news esgotaram a sua capacidade de resistência ao parlamento e às intempéries da vida pública. Quando Marielle Franco foi assassinada, Wyllys foi obrigado a reconhecer que corria riscos reais, passando a viver sob escolta; mas antes disso fora vítima de vários embates na Câmara dos Deputados, sofrendo agressões pessoais e lutando contra a constante desqualificação da bandeira LGBTQI. Após a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, acabou cedendo ao assédio e à pressão e exilou-se do país.

A terceira maneira de tocar no assunto ecoa as duas primeiras, provocando retornos ampliados de fantasmas do passado. Na cena, o som de microfonia interfere frequentemente no discurso do deputado, abafando o alcance de suas palavras, e então nos conscientizamos de como o assédio moral de garotos-deputados atualizam o bullying escolar. Homens “feitos”, de terno e gravata, fazendo cara de deboche e xingando “viado escroto” em meio ao plenário; homens brancos adultos mostrando o agressor infanto-juvenil que nunca deixaram de ser. O parlamento se amesquinha e vira o pior que uma sala de aula pode se tornar.
O fã de Judy Garland em Stonewall, com a pedra na mão, retorna e nos lembra: vamos pagar caro por isso. Pagar por ter ido aonde não fomos chamados – à casa da “democracia”. Enquanto, na cena, a fala do deputado gay defende o direito constitucional de estar ali, é impossível não lembrar que essa mesma casa – centro das garantias civis a que tem direito todo o cidadão – fora o motivo de Jean Wyllys abandonar sua própria carreira parlamentar. Se hoje o Stonewall não é mais um dos pontos solitários de encontro para a população LGBTQI, lembremos que o Congresso Nacional ainda não é lugar para nós. E se a própria casa da democracia não o é, o país, por extensão, também não é lugar para nós.
O recado está dado. Garotos engravatados ditam os rumos do país. As pedras – que não são as mesmas que eles usam – estão em nossas mãos. A vaga de Jean Wyllys na Câmara foi ocupada por David Miranda. Não é hora de recuar.
Renan Ji é Doutor em Literatura Comparada pela UFRJ.