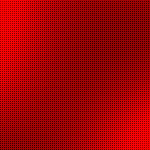Museu encena
A gente tem que lutar para tornar possível o que ainda não é possível.
Isso faz parte da tarefa histórica de redesenhar e reconstruir o mundo.
Paulo Freire
Apresento uma situação a partir de seus impasses e instabilidades: um grupo de teatro em trabalho de escuta; uma proposta cênica em uma ação de museologia social; uma atividade presencial no meio da pandemia; criar uma produção de memória oral mantendo distanciamento social. Essas sequências de deslocamentos são o pano de fundo geral da encenação.
Um semestre após três ações pontuais realizadas em abril de 2021, apresento, enquanto uma das idealizadoras, produtoras e coordenadoras pedagógicas, as condições que possibilitaram a realização do “Museu Ambulante” e o formato que ele adquiriu ao ter que se adaptar à realidade da pandemia e ao calendário proposto pelo edital “Retomada Cultural” da SECEC-RJ no âmbito da Lei Federal Aldir Blanc. Aponto breves percepções a partir de uma prática teatral realizada durante a pandemia que operou um procedimento inverso ao de ir para o campo virtual, como fizeram a maior parte dos artistas da cena teatral. Procedimento difícil, tenso, que, certamente, só foi possível devido ao caráter singular do território e à capacidade de transformação da proposta inicial do coletivo teatral, o Grupo Erosão, ao longo de quase um ano.
Para uma contextualização prévia, o “Museu Ambulante” originou-se de um material de arquivo vindo do trabalho realizado pela “CasaDuna – Centro de Arte, Pesquisa e Memória de Atafona” – projeto que fundei e coordeno com o artista plástico, pesquisador e diretor teatral Fernando Codeço, desde 2017, na cidade de São João da Barra, litoral norte do estado do Rio de Janeiro. A praia de Atafona é um pequeno distrito onde vivem cerca de 7 mil habitantes do total de pouco mais de 30 mil moradores do município. Atafona convive há mais de cinquenta anos com um intenso processo de erosão marinha no qual mais de 15 quarteirões já foram levados pelo mar, com igrejas, bares, mercados, casas, um pequeno prédio com comércios…. Duas ilhas – a Ilha da Convivência e a Ilha do Pessanha, onde moravam mais de 300 famílias – foram desabitadas e o ritmo da erosão se intensifica gradualmente.

Morando aqui, desde 2017 já pouco participava de aglomerações; a vida é um tanto reclusa, me comunico com amigos e familiares majoritariamente pelas mediações digitais. Minha vivência da pandemia se dá nessa cidade erma, onde desenvolvo pesquisas acadêmicas, produções artísticas, culturais e residências de arte em torno das questões socioambientais locais, a partir dos campos da arte, da filosofia e das políticas sociais. Parte do trabalho realizado nos últimos anos foi receber artistas e pesquisadores, produzir exposições, entrevistas e a construção de um acervo de imagens históricas da região afetada pela erosão e de gravação de entrevistas e depoimentos de moradores de do antigo Pontal de Atafona e das ilhas. Criamos também o Grupo Erosão, coletivo que investiga a linguagem do teatro em sua interface com as artes visuais, dirigido por Fernando Codeço, no qual atuo juntamente com es atores Lucia Talabi, Jailza Mota, Victor Santana, Rachel Rosa, Raynan Aguilar e o cenógrafo Rafael Sanchez, com ações de teatro de rua, performance e experiências em videoarte.
Com a pandemia da COVID-19 no início de 2020, interrompemos todas as nossas atividades que previam a continuidade do cortejo teatral Tempontal (2018-2019), um espetáculo processual, interativo e itinerante. O cenário da peça é uma bicicleta de 5 rodas criada a partir de materiais reciclados e adaptada para carregar 35 caixotes de feira e 12 caixas de peixe, um objeto escultórico construído a partir de resíduos do território, que recebeu o nome de Devir a lata. Durante o espetáculo, o elenco cria formas e cenas manipulando o próprio cenário criando imagens de um imaginário local. O Tempontal foi construído pelo coletivo na busca por um teatro ambiental, partindo de experiências que incorporam o ambiente e absorvem as informações em conversas e bares com os pescadores de Atafona e com as referências do mangue, do mar e do esgotamento da natureza e da vida levada nas margens de um sistema predador em tempos de Antropoceno. Os livros O Mangue (1981), de Osório Peixoto, Homens e Caranguejos (1966), de Josué de Castro, de um lado, e o Teatro da Morte (1975) do encenador polonês Tadeusz Kantor, de outro, dialogavam sobre esse esgotamento: o esgotamento de um sujeito esvaziado em meio às ruínas de um mundo. As ruínas da guerra do nazifascismo na Alemanha, as ruínas do embate do mar com a vida humana em Atafona, a vida sendo expressa em sua destruição, em sua fragilidade, os corpos cansados e vivos. As duas realidades são incomparáveis e não se trata de traçar paralelos, mas apresentar imaginários e estados humanos que, em toda a sua divergência, também apontam diálogos significativos.
Foi a experiência de reclusão da pandemia que nos fez voltarmos para as pesquisas anteriores e para o material de arquivo adquirido nos últimos anos. O “Museu Ambulante” surge do desejo de apresentar nosso acervo para a comunidade, especialmente para as pessoas diretamente implicadas nele. Nas reuniões com o Grupo Erosão, tivemos a percepção de que a estrutura do nosso cenário poderia ser recriada para receber imagens acopladas em seus módulos, que poderiam funcionar como suportes para as imagens serem expostas ao ar livre, em pontos específicos na comunidade. Elaboramos o projeto e fomos contemplados no edital “Retomada Cultural” da SECEC-Rj no âmbito da Lei Federal Aldir Blanc. A bicicleta foi então adaptada e transformada num dispositivo de museologia social, como uma plataforma para exposições. O grupo de teatro de rua seria inserido no trabalho com arquivo, visando, também, um movimento de produção de memória com a comunidade tradicional da praia. Uma vez que o projeto foi contemplado no edital, tínhamos uma janela para a realização e a pandemia persistia. O desafio seria o paradoxo de realizar um evento público de exposição de acervo histórico e produção de memória e, ao mesmo tempo, esse evento não poderia concentrar muitas pessoas.
Para a apresentação dessa performance, entendemos que o problema não era o “público”, mas a “aglomeração”, e que precisaríamos ser cirúrgicos quanto ao nosso objetivo inicial: apresentar as imagens para as pessoas diretamente implicadas nelas, para as pessoas que viveram aquele mundo que não existe mais, para aquelas famílias rememorarem sua ancestralidade por meio de imagens raras que, talvez, nunca tivessem sido vistas pela comunidade. Selecionamos previamente o percurso da bicicleta tendo em mente que só apresentaríamos o Museu para quem já estivesse no local escolhido, que é frequentado pela comunidade da pesca. Entendíamos que possuíamos um material que podia gerar muito interesse localmente, e optamos por não fazer uma divulgação da hora e local das ações. O objetivo do Museu Ambulante era ouvir e ampliar histórias dos moradores e moradoras sobre as imagens, criando uma ação entre poucas pessoas. Optamos por produzir um registro audiovisual para ser absorvido pela comunidade em atividades pedagógicas, como modo de manter as falas para escuta. Além disso, seria necessário incorporar as novas dimensões da realidade pandêmica às atividades com a comunidade: distanciamento, máscaras, álcool. Sabendo que provavelmente nem toda a comunidade estaria seguindo o protocolo, falaríamos também sobre as medidas sanitárias, distribuindo máscaras durante a ação. Toda a metodologia pedagógica trabalhada foi a de criar situações de fala – e de escuta – a partir do encontro da comunidade com as imagens. Os atores teriam que desviar de uma suposta centralidade na cena, e se colocar como mediadores entre a pessoa, o “foco da fala”, a imagem, como “dispositivo”, e uma pequena equipe de filmagem.[1]

Sabíamos que a situação de migração que houve das Ilhas do delta do rio Paraíba do Sul para Atafona foi traumática para muitas pessoas, especialmente para os antigos moradores de Atafona que perderam suas casas ou comércios. Sabíamos também que as imagens, além de raras, falam de uma memória muito afetiva no território. Cria-se assim um certo caráter melancólico nas narrativas em torno da erosão na praia, que passa desde a própria visualidade escultórica impactante e brutal criada na orla, até o fato concreto de que a praia está sendo destruída e que as pessoas perdem suas casas.
Ainda que tudo na natureza esteja permanentemente em transformação e destruição, nós nos organizamos muito bem de modo a não perceber isso o tempo todo e acabamos esquecendo dessa dimensão da realidade, para nossa própria organização mental e social funcionar. Lembro-me de Nietzsche descrevendo o esquecimento como uma atividade precisa e fundamental para o fortalecimento da vida e do homem como espécie. Esse esquecimento é uma força ativa em tensão com a memória e funciona como uma filtragem das experiências, como um zelador da ordem psíquica. Esse esquecimento atua no apaziguamento, uma normalização tanto da capacidade criadora no cotidiano, quanto das violências ou situações traumáticas que precisamos esquecer para seguir.
No Brasil, isso parece um carma, desde as invasões com a violência às comunidades indígenas e negras, para a fundação de uma Modernidade (que aqui só chegou como resto), à disputa e dominação da terra com opressão e expulsão dos agricultores locais, que se atualiza com a implementação do megaempreendimento pórtico industrial, o Porto do Açu, desde 2012 na região, já tendo efetivado violentos abusos e expropriações na comunidade que ali vivia há gerações em trabalho com a terra. Essas são violências que nunca cessaram e que normalizamos e esquecemos.
Falar de memória nesse contexto é também falar de feridas e de perdas. No momento atual, todos perdemos tanto, o país perde centenas de milhares de vidas para um vírus transatlântico, sendo que sabemos que grande parte dessas mortes foram ocasionadas pelo descaso de um governo criminoso. As previsões climáticas calculam ampliação do processo erosivo na região. Das ilhas, pra Atafona, posteriormente São João da Barra, litoral Norte-Fluminense, Campos dos Goytacazes, e a planície Goitacá…
O desafio do projeto era fazer uma experiência de teatro de rua em tempos de morte, que visa promover vida e cuidado, reanimando imaginários comunitários de territórios destruídos. Por meio de imagens e histórias a serem contadas, fomentar uma cultura oral referente a um mundo que não existe mais, mas que ainda existe, virtualmente, sustentando um vínculo territorial difícil de entender se só olharmos para as ruínas.
Terra dos bravos índios Goytacazes, teve um auge econômico com as usinas do açúcar ao longo século XX, economicamente vinculada à figura do usineiro, um “pai-patrão” que organizava o imaginário, o trabalho e a economia dos trabalhadores nos latifúndios da cana. Nesta época, devido à sua exuberante natureza em clima fresco e solar, a praia era terreno disputado pelas elites econômicas das cidades vizinhas, que construíam aqui casarões de veraneio. Hoje é sabido até onde iam as espúrias relações entre os usineiros da região e o Regime Militar no Brasil, que financiava o setor até o início dos anos 80, quando começa o declínio econômico[2]. Fato é que as ruínas da praia, com o drama das casas dos pescadores e das mansões dos usineiros sendo levadas pelo mar, obscurecem a história dessa região, com suas adaptações, criações e ressignificações do vínculo territorial. Para além da figura espetacular, a ruína na beira da praia nos mostra traços da história e de um modus operandi de um Brasil que segue violentando e produzindo zonas de sacrifício, zonas de apagamento como mais uma face do racismo e do colonialismo se infiltrando nas veias e imaginários dos territórios.
Levamos a bicicleta pra rua com cantorias e imagens. Levamos um quadro negro e giz para tentar criar uma dinâmica com eventuais palavras ou textos que poderiam surgir. No chão de paralelepípedo uma grande bicicleta artesanal ia sacolejando, com muitos caixotes de feira pendurados. Passando pela areia, pelas dunas, pelo asfalto, acordando a comunidade, badalando na fila do pão, entrando em ruelas, montando esculturas móbiles com as imagens nos caixotes, se colocando para ouvir e registrar. A bicicleta ia andando e chamando atenção com o canto em coro do elenco: “Eu vi o Sol eu vi a Lua, olha o museu no meio da rua! / Eu vi o bagre, eu vi a arraia, olha o museu na beira da praia! / eu vi o mangue, eu vi a ciriba, olha o museu no rio Paraíba! / Eu vi a gaivota, eu vi a garça, olha o museu no meio da praça!”. Chegávamos nos pontos previstos e começávamos o desmonte/montagem/desmonte… das imagens e dos caixotes em diferentes lugares da rua. A proposta era o grupo se dispersar e fazermos esparsos pontos de microcenas paralelas, alguns totens montados ao longo das praças com as imagens, registros sendo feitos, histórias sendo contadas.
Apesar de toda a melancolia da questão da erosão e da migração, os encontros na performance foram de muita alegria, gratidão e emoção de poder entrar em contato com o material e formular discurso coletivamente a partir das imagens. Com o agravante da tristeza e insegurança do momento pandêmico, montamos uma promoção de informação dentro de todos os protocolos como ar livre, uso e distribuição de máscaras, distanciamento.

A museologia social tem tomado variadas formas no Brasil nos últimos anos. Formas e dinâmicas de agenciamento que funcionam como rompantes, insurgentes, à revelia dos valores dominantes, e a partir do desejo de pessoas ou coletivos em torno de um outro “comum”, por mais tenso e ficcional que ele seja. Não é um comum enquanto sentido ou ideia, mas como uma produção de vínculo de comunidade. Uma proposta de museologia que afirme uma diferença em relação à marca de uma narrativa de contestação e compromisso ético, científico, político e poético no modo de enquadrar vidas e de romper enquadramentos.
Os relatos, para além da melancolia, tinham uma afirmatividade da vida e dos processos ambientais territoriais. Tanto o rio Paraíba do Sul, que aqui desemboca, quanto o mar que vem avançando, são constitutivos das vidas das pessoas. O mar é, ao mesmo tempo, o que leva as casas, e também o que dá de comer e o sustento de gerações daquelas famílias, como nessa frase que foi escrita: “Amo o mar mesmo depois do que ele me fez.”

Atafona impacta porque, além do visual exuberante e escultórico, traz uma duplicação. Na vida que se apresenta na experiência concreta do cotidiano, que está em constante processo de ruína e transformação. O que mantém nossas experiências e histórias é a memória que costura esse fio afetivo e psicológico. O processo da ruína na praia traz pra visualidade essa camada da experiência da vida que esquecemos. Sabemos que todas as cidades se transformam, obras e produções de todo tipo… Os modos de vida vão se formando e transformando entranhados nos processos das cidades. Mas em geral, temos sempre alguma materialidade onde costurar nossa memória a uma história. O que acontece aqui é uma intensificação dessa experiência no limite de estar tudo debaixo d’água, e o processo vem avançando num ritmo que conseguimos acompanhar ao longo dos meses, anos. Uma mesma família perde a moradia algumas vezes. Restam algumas imagens. E estórias, que ouvíamos sendo atravessados por essas tantas vozes, que construíam em nós um novo imaginário sobre a vida naquelas ilhas.
Em um dos momentos, enquanto o grupo seguiu com a bicicleta por uma ruela eu fiquei sozinha, cuidando de uma parte do museu que tinha sido montado numa praça. Veio em direção à praça um homem trazendo sua filha para ver uma imagem. Era uma foto aérea, das ilhas, de antes da erosão começar. Ele, nascido e criado na ilha, nunca tinha visto aquelas imagens. Sua filha nunca tinha visto uma exposição ou uma bicicleta daquele tipo. Ali começou, daquele pai, um ato de narrar a vida, de reimaginar como era, de, ao buscar por uma verdadeira memória esquecida, ficcionalizar um passado para um futuro, recosturar estórias familiares, casos dos amigos. A situação possui uma dimensão de cuidado com si mesmo e com a memória coletiva que é marcante para aquele pequeno grupo de pessoas entre família/vizinhos – o gesto de um pai falar para uma filha sobre o lugar onde viveu, “onde tudo começou”, “como era antes” cria uma heterotopia constitutiva de imaginário, de um imaginário comum. Foucault (1984) faz uma reformulação da ideia de utopia inserindo-a num território coletivo – a utopia serve como um consolo individual, fora do mundo, mas a heterotopia funciona como “uma contestação ao mesmo tempo mítica e real do espaço onde vivemos”,[3] no modo de produzir sentido e realidade formando resistências às tiranias dos espaços organizados.
Pouco tempo depois, algumas casas a frente, outro pescador encontra uma imagem de sua falecida avó, antiga parteira da ilha que ficou morando lá, mesmo depois da interdição da defesa civil, até os 102 anos quando faleceu. Uma caranguejeira conta do barzinho de forró nos luais na ilha, uma outra fala da ausência da ideia de propriedade na Ilha da Convivência – “tudo era de todo mundo”.
Assim, passamos três dias mobilizando caixotes, imagens e imaginários em histórias sedutoras de uma utopia perdida. Museu, arte, pesquisa, meio ambiente… Atualmente, o que não queimou está em ameaça explícita do atual fascismo pentecostal que nos (des)governa. Pois faremos nas brechas, nas margens, nas ruelas, nos celulares. Lembro novamente de Kantor, que fazia suas peças nos escombros dos bombardeios, em teatros clandestinos fechados pela guerra nazifascista da Alemanha. Por mais difíceis que as condições sejam, as pessoas estão vivas e imaginando os próximos mundos.
Foram muitas histórias e fizemos um filme (que passaremos in loco em breve), e é interessante ver, ao final desse “primeiro ato” do Museu Ambulante, que as pessoas falam com amor e alegria da vida. Elas percebem a violência que vêm sofrendo há décadas e o empobrecimento do ecossistema que as alimenta, mas que não se sentem impotentes ou ressentidas, e sim, criativas em modos se conviver com uma realidade que as ultrapassa, e na qual, em maior ou menor grau, estamos todos naufragando.
O romance O Mangue (1981) se passa na comunidade da Ilha do Pessanha nos anos 60, lugar que o autor Ozório Peixoto escolheu para se esconder durante a ditadura militar. Há uma cena forte do livro que se passa em uma noite na ilha e a TV noticia, em um parco aparelho no barzinho, o grande evento do homem pisando na lua. Pescadores, marisqueiras e amigos se juntam para acompanhar. Uma TV portátil em preto e branco era uma grande novidade para aquela comunidade nos anos 1960, um objeto raro e mesmo mágico, que reunia, em volta do rústico barzinho, os ilhéus impressionados e solenes com o momento emocionante. Uma grande lua cheia ilumina a cena entre fartura de peixe, cachaça, e coqueiros cantando ao som do vento forte. No fim da cena, acompanhamos esse importante passo da humanidade e, ao mesmo tempo, o netinho da personagem Manjedoura morrer asfixiado, entupido de verme, logo ao lado, enquanto mulheres penam, rezando, chorando e vendo, entre lágrimas, o Homem dando seus primeiros passos na face da lua.
No último mês assistimos, embasbacados e enlutados com as quase 600.000 mortes que vivemos no Brasil, bilionários norte-americanos com a mais nova “aventura” da colonização espacial, falando, rindo, sem o menor constrangimento, que é a única coisa que lhes resta a fazer com a enormidade de dinheiro que possuem. Elon Musk e Jeff Bezos encabeçam a disputa da “corrida espacial bilionária” que, para além do que poderia ser visto como uma desfaçatez de indivíduos, defendem uma ideia de salvação da espécie em longo prazo. Se expandir para além da Terra seria a única forma de garantir um futuro para a humanidade, mantendo a lógica da expansão e exploração como algo inquestionável, posto que essa é a lógica que os sustenta como bilionários. Eles contam com um futuro destruído (e assim o produzem), colocando investimento econômico em um “fora” da destruição que estão causando no planeta hoje. O que no século passado se apresentava como uma disputa entre estados demonstrando poder, hoje compete a empresários que não têm compromisso político nenhum, não precisam dar satisfação a ninguém, nem responsabilidade com nada que não seus próprios interesses – ainda que, diga-se de passagem, possuam acordos econômicos governamentais com a Nasa, por exemplo.
A cena do romance de Ozório se passa numa ilha que hoje já foi quase toda submersa. Desde 2019, o rio, de tão fraco, não consegue mais chegar até o mar, fazendo com que as ex-ilhas se conectem, atualmente, ao continente, em Atafona. Essa nova dinâmica que o mar criou com o rio permitiu que se reconfigurasse uma nova vivência na antiga Ilha da Convivência. Hoje, é uma faixa de areia onde ninguém mora, mas antigos moradores reconstruíram barzinhos improvisados na beira do rio que lembram um pouco as construções da década de 60. Durante a pandemia, ouvimos, Fernando e eu, histórias que mostravam um desejo de manter uma memória viva e perspectivas de modos de vida em agenciamento com o ambiente.
A dinâmica ambiental da erosão neste território traz para o trabalho com pesquisa, no caso específico do Museu Ambulante, que cruza teatro ambiental e museologia social, pedagogias existenciais nos modos de adaptação e significação ao lidar com o território erosivo. Quando o chão começa a cair, percebemos que o que sustenta não é a segurança e a estabilidade, mas o movimento e a capacidade de seguir e agenciar com o ambiente. E que a vida segue, independente de nós e de nossas construções que se arruínam. Estamos, freireanamente, propondo modos de rememorar e de esperançar criando, poeticamente, uma ética de testemunho e de imaginação.
Notas
[1] Composta por câmera, direção e som direto: Pedro Pipano, Jô Serfaty e Anne Santos.
[2] Sobre isso, os filmes Pastor Claudio (2018) de Beth Formagini, e Forró em Cambayba (2013), de Victor Menezes produzem bons retratos desse momento histórico do Brasil.
[3] Des espaces autres, em Dits et écrits II. 1976-1988, p. 1575, 2001.
Julia Naidin é co-fundadora, produtora e curadora do projeto “CasaDuna, Centro de Arte, Pesquisa e Memória de Atafona”, desde 2017. Doutora em Filosofia pela UFRJ, atriz do Grupo Erosão e bolsista de Pós-Doutorado no Programa de Políticas Sociais pela UENF. Pesquisa metodologias e epistemologias outras, entre Filosofia, Política e Arte Contemporânea.
Vol. XIII nº 72, setembro a novembro de 2021
Se você aprecia o trabalho da Questão de Crítica, faça parte dessa história colaborando com a gente no Apoia-se! Com essa campanha, firmamos uma parceria com o Foco in Cena, unindo nossos esforços pela memória e pelo pensamento sobre as artes cênicas no Brasil. Junte-se a nós e ajude a compartilhar! apoia.se/qdc-fic