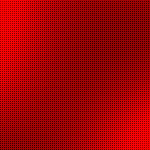Sobre crítica e nomes
Vol. IX, nº 67 abril de 2016 :: Baixar edição completa em PDF
Resumo: O artigo reflete sobre a autoria e sua ressonância na história da crítica teatral no Brasil, a partir do pensamento de Michel Foucault sobre o nome de autor e o discurso. Relaciona esta reflexão com o paralelo entre crítica e crônica proposta por Maria Cecília Garcia, a despeito da crítica jornalística, no livro Reflexões sobre a crítica teatral nos jornais – Décio de Almeida Prado e o problema da apreciação da obra artística no jornalismo cultural e, ao fim, faz alguns apontamentos sobre o atual cenário da crítica teatral estabelecida na internet.
Palavras-chave: crítica teatral, nome de autor, discurso
Abstract: The article reflects on the authorship and its resonance in the history of theater review in Brazil, from the thought of Michel Foucault on the name of the author and speech. Relates this reflection with the parallel between critical and chronic proposed by Maria Cecilia Garcia , despite the journalistic criticism in the book Reflexões sobre a crítica teatral nos jornais – Décio de Almeida Prado e o problema da apreciação da obra artística no jornalismo cultural. Finally, make some notes about the current scenario of the theater review in the internet.
Keywords: theater review, author name, speech
A crítica é um discurso sobre um discurso.
Roland Barthes
O que fazer com o próprio nome
Não é sobre o nome próprio, mas sobre o nome que assina, o nome do autor. No entanto, a grafia pode ser a mesma. E a quem interessa esta distinção? Até aqui, a quem escreve, no caso, eu. Compreender esta diferença implica em distinguir lugares de escrita e possibilidades enunciativas, significa tomar uma posição em relação ao que se quer dizer (escrever) e, principalmente, ao como dizer.
O nome do autor, pensado como elemento que ampara o discurso, aparece como objeto de estudo dos mais importantes pesquisadores de várias disciplinas, que se desdobram sobre as predeterminações que este nome provoca perante a obra pronta – sendo texto ou não. Este nome, entendido como um dispositivo implícito à experiência da recepção, retorna ao sujeito que produz/cria/escreve como um delimitador do percurso, como uma borda invisível, porém permanente nos processos inventivos.
O autor, parte externa ao sujeito que escreve (a partir daqui falo apenas sobre o ato de escrever e sua relação com a autoria), é um nome público, imbricado às demandas da sociedade. Interessa aqui o pensamento de Michel Foucault no texto O que é um autor?, transcrição de sua aula inaugural no Collège de France em 1969, no qual o nome do autor é visto a partir de um contexto social, de uma condição sociológica para o seu aparecimento.
Os discursos validados socialmente como importantes, durante o processo de individuação moderna, deixaram de prescindir do nome. O que até então poderia ter sido dito por qualquer um, agora carecia de garantias. O nome inaugura a ordem do pertencimento – o que pertence a quem – algo além de identificar simplesmente quem escreveu. Uma transformação sutil se cria quando esse texto passa a ter contornos de propriedade. O discurso deixa de ser autônomo, passa a ter dono, autor, autoria. O que hoje parece muito “lógico”, no sentido que figura como óbvio o fato de algo que tenha origem numa subjetividade exclusiva “pertença” ao portador de tal subjetividade.
Especificamente sobre a escrita literária – da qual aproximo a crítica teatral, pois, a crítica, ainda que pertença a uma escrita técnica, parece-me conter, dentre suas especificidades necessárias, um lugar de subjetividade implícito, que pode deixá-la a beira da criação artística, eventualmente –, Foucault diz: “O anonimato literário não nos é suportável: apenas o aceitamos a título de enigma” (FOUCAULT, 1992, p. 49-50). Esta afirmativa tensiona a possível obviedade que se estabelece na lógica de pertencimento entre texto e assinatura. Fosse o anonimato uma alternativa aceita, pouco interessaria saber quem é autor.
Para Foucault, a autoria não é uma premissa do autor, é uma demanda da sociedade. À vista disso, assim como o texto literário, a crítica teatral precisa de assinatura. Pois, ao texto sem assinatura, segue-se uma caça ao nome do autor. Isto porque um texto literário, como uma crítica teatral, diferentemente, por exemplo, de uma bula de remédio, carregam consigo uma instância de individuação, de subjetividade individual. E para que o texto possa ser legitimado sua autoria deve ser reconhecida. Um texto sem autor não é autônomo, mas incompleto. Fica-se necessariamente à procura da sua outra parte. Aquilo que, de fato, pode fazer valer o seu conteúdo: um nome exterior a ele. A autoria, assim sendo, é uma exigência social – uma construção. Logo, o autor não é uma pessoa de carne e osso, mas um personagem no entorno de um texto ao qual o seu nome atribui consistência.
Em suma, o nome do autor serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso: para um discurso, ter um nome de autor, o facto de se poder dizer “isto é escrito por fulano” ou “tal indivíduo é o autor”, indica que esse discurso não é um discurso quotidiano, indiferente, um discurso flutuante e passageiro, imediatamente consumível, mas que se trata de um discurso que deve ser recebido de certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber um certo estatuto. Chegaríamos finalmente à ideia de que o nome de autor não transita, como o nome próprio, do interior de um discurso para o indivíduo real e exterior que o produziu, mas que, de algum modo, bordeja os textos, recortando-os, delimitando-os, tornando-lhes manifesto o seu modo de ser ou, pelo menos, caracterizando-os (FOUCAULT, 1992, p. 45-46).
Com isso, Foucault identifica no nome uma função, denominada por ele de função autor. A função autor existe para aplacar a angústia da sociedade em relação à ausência de indivíduo – uma herança já mencionada do processo de individuação da sociedade moderna. Muito distante da defesa da “morte do autor”, um ideário que ressoa desde a década de 70, nos discursos de teóricos como o do próprio Foucault, que defendem a autonomia do texto em relação ao nome do autor, para o público em geral um texto sem assinatura ainda é um texto inferior.
O nome de autor, deste modo, não é uma característica aleatória do discurso, ele é fundamental, e até agora, indispensável. “A função autor é, assim, característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade” (FOUCAULT, 1992, p. 46). O nome do autor é parte constituinte essencial à lógica da recepção. Por isso, as classificações e atributos que este nome recebe não partem, somente, do próprio autor, mas principalmente, do meio que o cerca. Ele sofre delimitações externas e nem sempre se constitui num caminho previamente estimado pelo indivíduo que escreve. Como um autômato que desempenha funções socialmente predeterminadas, ter um nome de autor, significa também corresponder às expectativas.
Pensemos nas críticas de teatro as quais fomos habituados a ler – as de jornal –, é mais fácil recordar de uma crítica ou de um nome de crítico? A intenção de se pensar esta questão pretende, justamente, evidenciar a maneira como o nome do autor está preso às demandas da recepção, e de como este público leitor pode ser influenciado por um padrão de escrita e, desta forma, ao tornar-se refém do mesmo, termine por só esperar e cobrar a sua reprodução infinitamente. O nome do autor corrobora para a firmação de um pacto implícito – o que é uma crítica de teatro, como se escreve uma crítica, qual a forma legitimada, quem pode escrever.
Quem pode escrever? Quando o discurso de alguém é visto como uma das falas reconhecidas de determinada categoria discursiva, este alguém, que tem a permissão de se colocar sem muita resistência, representa na organização social na qual se insere uma “figura de autoridade”. Para chegar a este lugar na hierarquia dos discursos, uma justificativa plausível, e que aqui interessa para dar prosseguimento ao texto, é uma expressão comum do vocabulário popular, quando se diz, ou se escuta dizer, que “fulano fez um nome”.
O “nome feito” surge quando o profissional tem reconhecimento de um público considerável, dentro do nicho ao qual pertence. E tal reconhecimento deve manter-se permanente durante um longo período, até que o nome por si só, seja o principal advogado do seu detentor. Ou seja, depois de um tempo, o nome é uma espécie de garantia. Neste momento, o nome já se configura como algo que está para além do corpo, da voz e do texto. Qualquer tipo de questionamento sobre a autoridade deste nome pode ter como resposta o próprio nome. Ter um nome adquirido é como conquistar um escudo, um colete de segurança para o discurso, o que configura, assim, a inseparável e a dialeticamente dependente relação entre poder, discurso e nome.
Presos à própria importância, tais “nomes feitos”, agora, nomes de autor, devem reverência a eles mesmos e àqueles que os validaram ao longo do tempo. Reverência esta que, por parte da recepção, pode ser compreendida como uniformidade e coerência com tudo o que já foi por eles lido. Repetição de forma, manutenção de estrutura, os anos vão passando, muito se enrijece, pouco se transforma. O que fazer, então, com o próprio nome?
Gostaria de perceber que no momento de falar uma voz sem nome me precedia há muito tempo: bastaria, então, que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser percebido, em seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se, por um instante, suspensa. Não haveria, portanto, começo; e em vez de ser aquele de quem parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, uma estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível (FOUCAULT, 2011, p. 5-6).
Foucault começou assim mais uma aula no Collège de France (1970), agora transcrita no livro A ordem do discurso. “Gostaria”, do futuro do pretérito, já anuncia a impossibilidade, mas preserva e mantém utopicamente aceso o desejo. Foucault, neste momento, já era um nome feito. Nome de autor. Expectativas à parte, se colocar como passagem de um discurso, não seu dono, não diz da anulação do eu, mas ao contrário. Eu (aqui no texto) sim, o nome não.
As marcas da crítica jornalística
A história da crítica teatral brasileira – pensando nas que fomos habituados a ler, as de jornal – pode ser estudada por meio de nomes de autor, com uma cronologia de nomes de críticos pertencentes a cada período. A história da crítica teatral jornalística é mais uma história de nomes do que uma história da crítica.
O objetivo de pensar a trajetória da crítica de jornal no país é encontrar nas referências, influências e características, hipóteses que possibilitaram o desenvolvimento de uma escrita voltada para as identidades dos nomes e valorização de suas opiniões. Por que o nome se tornou mais evidente do que o que está escrito, do que a crítica, propriamente?
Para isso, optou-se por pesquisar um estudo sobre a crítica de jornal feita por um jornalista, no qual além de dimensões estéticas, o texto abordasse questões próprias do jornalismo (da história e das especificidades). A escolha pelo livro Reflexões sobre a crítica teatral nos jornais: Décio de Almeida Prado e o problema da apreciação da obra artística no jornalismo cultural (2004), de Maria Cecília Garcia, atende à demanda por um texto que pensa crítica jornalística e história do jornalismo em conjunto.
Todo o livro é uma reflexão sobre a crise do jornalismo e sua repercussão no jornalismo cultural, do qual faz parte a crítica de arte em geral. A autora prioriza a necessidade de o jornalismo passar por um processo de intelectualização que o distancie da atividade limitadora de só divulgar e informar – e um exemplo disso seria a escrita de Décio de Almeida Prado. Para Garcia, o jornalismo para o novo século precisa criar conhecimento, e na crítica isto significa adquirir um papel fundamental no desenvolvimento do teatro e da imprensa: um papel de contraponto à mercantilização acelerada da arte. Um discurso crítico dentro da crítica.
Fechar o texto num estereótipo informativo e propagandístico é resumir a crítica a um estado de monologuismo, que para a autora, é o mesmo que ausência de crítica. A crítica para o novo século, como a autora chama sua proposição, precisa se abrir ao diálogo, com o artista, com o público e com a criação. Sim, porque, mais do que repetição de forma, a crítica é um momento de criação, e o crítico tem sua instância de artista, diz a autora, apoiada na leitura de O crítico como artista, de Oscar Wilde.
Enxergar no crítico um artista justifica toda a relação de importância que detém o nome de autor na sociedade, como evidencia Foucault. Envoltos numa subjetividade criativa e única, a própria condição excepcional de escrita dá valor ao nome. Já que ninguém, a não ser o próprio crítico, pode escrever do jeito que escreve. É a subjetividade do indivíduo que proporciona a criação e a identificação de um estilo. E para Wilde não há arte onde não há estilo. E o estilo, apesar de identificável, recusa repetições – “O crítico reproduz a obra a respeito da qual escreve de um modo que nunca é imitativo e cujo encanto consiste, em parte, nessa repulsa de sua semelhança” (WILDE, 1986, p. 1135 apud GARCIA, 2004, p. 43).
O caráter artístico dá à crítica exclusividade. Um tanto distante das reportagens e matérias jornalísticas que, na tentativa de alcançar imparcialidade, privilegiam formas cristalizadas de escrita que provocam o apagamento da assinatura, ainda que ela esteja lá (o que não é sempre). A crítica é o rastro de indivíduo no jornal, o respiro dentre os textos sem contorno, sem nome.
Isto quando a crítica teatral não passa a ser também uma constante repetição de si mesma, que de tanto ser contorcida para caber na objetividade do jornal, perde sua singularidade subjetiva individual. Ao transformar-se em sua própria imitação, multiplicam-se as queixas ao seu esvaziamento de sentido e à forma obsoleta, como uma queixa a qualquer outro texto jornalístico. Por um instante, as crises da crítica e a do jornalismo se espelham. É importante mencionar tal conjuntura, pois, a crítica de teatro por anos se encontrou neste lugar da convergência das crises.
Garcia desconstrói o discurso de que a crítica é a parte supérflua, de entretenimento, dentro de um jornal. Repreende seu esvaziamento, sua transformação em “resenha pobre de um espetáculo” (GARCIA, 2004, p. 19), e acusa o jornalismo de tentar abafar o jornalismo cultural, este que é, em sua visão, seu lugar de renascimento.
Do ponto de vista de um não jornalista, Luiz Camillo Osorio, crítico de arte e professor, reflete sobre a necessidade da crítica neste território em que se confluem “crise da crítica” e arte contemporânea, sua grande questionadora. O autor reitera que o maior perigo para a crítica na atualidade é cair no monologuismo e na falta de interlocução. Diz ainda que a crítica não pode perder a característica de discussão pública, que a originou, na Grécia. E que para isso é necessário reagir à cristalização, gerar novos atritos, e deles criar novos horizontes de sentido.
É importante ter em mente que o juízo não é necessário se for para confirmar o que já se sabe e que é a regra, mas para potencializar o ainda não conhecido, classificado, formado, dando sentido, ou melhor, procurando sentidos no que está em processo de constituição (OSORIO, 2005, p. 45).
É preciso reagir à padronização que a linguagem jornalística imprime aos textos. É preciso porque, em um nível mais profundo, a padronização cria normas, não só de escrita, mas também de juízo. E para Osorio,
(…) a necessidade de julgar nasce da ausência de critérios, a priori, e seu resultado, o juízo, não estabelece uma norma, mas procura um sentido que se põe em movimento ao tornar-se público (OSORIO, 2005, p.15).
A norma, a partir da sociedade moderna, representa a maneira de hierarquizar os saberes na esfera social. Um discurso que respeite as normas terá mais autoridade e visibilidade dentro da ordem discursiva estabelecida. É o meio, pela linguagem, de ter poder. A crítica teatral jornalística tem como princípio normas. Normas do que e como algo precisa ser feito para ser “bom”. A ausência de critérios, defendida por Osorio, não existe. Críticos de jornal são reconhecidos por serem criteriosos. A escrita não está em movimento junto à obra, o artista que tem que movimentar a obra para caber nas normas – caso queira.
O jornalismo tem uma escrita normativa por excelência. E pode-se pensar que, no momento de crise, a movimentação mais difícil seja exatamente a de fazer explodir as barreiras da norma. No caso dos críticos existe ainda um reforço que torna a forma ainda mais rígida: a relação entre nome de autor e norma é tão intrínseca e interdependente que é difícil distinguir o limite entre os dois. Onde termina o nome e começa a norma, ou vice-versa, não é possível determinar. É como se o nome de autor fosse a própria norma.
Os velhos nomes feitos e a “crônica-crítica” na história
No Brasil, na crítica jornalística, a constituição da norma está ligada a dois fatores: nome e opinião. Maria Cecília Garcia traça uma narrativa interessante para a história da crítica jornalística no país quando diz que esta é bem próxima da crônica. Ela escreve que, como os primeiros críticos eram oriundos da literatura, a relação com a crítica se dava de maneira espontânea, sem rigor de especialista, e, portanto, em princípio, mais opiniática.
(…) a crítica, como a conhecemos desde o século XIX, quando as primeiras apareceram, em geral pelas mãos de romancistas, com José de Alencar e Machado de Assis, esteve vinculada de maneira estreita ao jornalismo. (…) Por isso, consideramo-las textos diferenciados no corpo do jornal; não são notícias ou reportagens, cujo objetivo imediato é informar o leitor sobre um acontecimento qualquer, mas um texto informativo-opinativo, que abusa da função expressiva da linguagem com o objetivo de atrair o leitor para a obra artística e refere-se a um acontecimento específico. Assim, as críticas são irmãs mais próximas da crônica, da coluna, da resenha (GARCIA, 2004, p.71).
Esses textos específicos – “diferenciados do corpo do jornal” – são escritos por indivíduos de alguma relevância social e cujas “opiniões” podem ter um lugar de destaque. Pode-se admitir que tais escolhidos chegaram a tal condição por terem um nome feito. Os romancistas do início do século XIX escreviam críticas por serem escritores e jornalistas com nome, porém, desta relação estreita entre nome e legitimidade de escrita emergiram questionamentos que se aplicam à crítica teatral jornalística até hoje:
Tanto que, quando surgiu, a crítica teatral veio impregnada do simbolismo herdado da literatura. E até hoje talvez seja um dos gêneros mais polêmicos do jornalismo. A começar por sua classificação (GARCIA, 2004, p. 70).
São duas as perspectivas escolhidas pela autora para tentar desencobrir o ar de incógnita que a crítica jornalística brasileira apresenta: a primeira é enumerar quais as qualidades da crônica que também aparecem na crítica; e a segunda, marcar na história da crítica do país períodos de transformações relevantes.
A aproximação com a crônica, talvez, pareça mais importante para refletir sobre a condição da recepção de uma escrita crítica. Para começar, Garcia esclarece que a crônica tem no jornal a função de comentar fatos cotidianos (e como aludido ao nome – “crônica” – os textos são feitos em concordância com a cronologia), e, portanto, refere-se ao tempo presente. O cronista se ocupa do dia-a-dia, do corriqueiro. A linguagem surge entre jornalismo e literatura, fazendo do cronista um “narrador-repórter”. A crítica, apesar de não tratar de acontecimentos diários, também fala do presente fugaz da vida teatral da cidade. E aí está a primeira aproximação com a crônica: seu referencial temporal que a leva para o órgão que se atém às brevidades, a bem dizer, o jornal.
Outra semelhança destacada diz que a crônica trata dos “detalhes” de circunstâncias especialmente escolhidas pelo cronista. E se ater aos pormenores não é característica típica das matérias e reportagens, que focam mais as generalizações. Neste sentido, o cronista escreve sobre o material “aparentemente insignificante” dos fatos. Isto permite que o texto seja escrito fora dos padrões dos registros de notícias. Para a autora, o espetáculo teatral também foi considerado um acontecimento fugidio, e o crítico, aquele que escreve sobre seus detalhes.
O cronista relaciona fatos para reconstituir o sentido da existência cotidiana; o crítico une as partes de um espetáculo que ele mesmo acabou de desunir, para buscar o sentido da obra. (…) Lembremos que o verbo “criticar” vem do grego krinomai, que significa dividir, separar em partes. O cronista lança um olhar crítico sobre um objeto, ou uma situação, e, depois de separá-lo em partes, toma uma dessas partes como ponto de partida de sua análise. (…) O crítico de teatro separa o espetáculo em partes e analisa cada uma delas, em detalhe. Depois, remonta o espetáculo diante de nossos olhos, volta a unir as partes que fazem o sentido da peça (GARCIA, 2004, p. 77-78).
O cronista e o crítico estão unidos por esta tarefa questionável de dar a ver o sentido nos fatos “pequenos”. E é neste lugar que o jornalismo pode se colocar na contramão das avalanches de notícias sem reflexão e sem assinatura. Dito desta forma, Garcia parece entender que uma das condições para um jornalismo renovado está na vitalidade que a assinatura dá ao texto. Não que todo repórter deseje ser um cronista, mas que em seu trabalho possa carregar seu nome de autor tirando a imparcialidade da escrita e possibilitando uma avaliação mais profunda acerca dos temas. Para cada cronista há uma escrita crítica. Em cada crítica há um tanto de crônica. E para cada jornalista, falta um tanto dos dois.
Contudo, o texto assinado está, normalmente, encaixado em gêneros jornalísticos opinativos. E isto significa que aí “o desejo de informar é tão importante quanto o de avaliar, incitar, seduzir” (GARCIA, 2004, p. 80). Ou seja, a opinião é um artifício para gerar interesse no público leitor, mesmo que isto reproduza um sistema que valorize da mesma maneira avaliar e seduzir, opinar e fazer propaganda.
A manutenção e supervalorização da opinião remontam, na história da crítica teatral jornalística no país, aos primeiros textos que eram tomados por um viés militante, contra a imposição da cultura europeia. Críticos que não detinham um conhecimento específico sobre crítica teatral, ou sobre teatro propriamente, mas que lutavam em prol da criação de uma identidade nacional, inclusive para as artes. Estas ideias partem de uma elite intelectual burguesa, que foi também o primeiro público leitor das críticas.
A crítica de jornal nasce aqui do mesmo embrião revolucionário da imprensa no século XIX. E falar do artista de teatro era falar dos subjugados, dos que precisam ter visto da polícia para não serem presos como vagabundos. A crítica era eminentemente política e destinada a uma burguesia com resquícios aristocratas. Falar de teatro no Brasil era se recusar a aceitar a doutrinação à arte estrangeira, aos modelos do colonialismo cultural, ao moralismo das teorias raciais, que inferiorizavam índios e negros. Ter opinião não era o mesmo que não ter conhecimento especializado, ter opinião era atender a uma urgência social, uma necessidade que estava à frente da sofisticação das teorias de arte.
Os donos das opiniões com valor, os intelectuais respeitados pela elite leitora, eram jornalistas e escritores reconhecidos. Por herança, e isto é uma hipótese, a leitura da crítica jornalística ainda incide nesta demanda por nome e opinião, só que agora, fora de contexto. E a opinião, hoje, pode ser confundida com forma, com norma e com verdade.
Maria Cecília Garcia enumera quatro períodos importantes para a crítica jornalística depois da primeira grande transformação que se deu no público. No início, o leitor de jornal era o público consumidor de obras de arte, portanto, havia espaço para elaborações mais complexas das opiniões, pois, existia um público que tinha informação e conhecimento suficiente para apreender os discursos. Era uma crítica que procurava na obra traços que poderiam ser apontados como próprios da cultura brasileira, atendendo ao desejo de identificar e consolidar uma identidade nacional. A partir da década de 30, o jornalismo amplia sua distribuição e alcança a classe média e o operariado organizado.
A arte passa igualmente por momentos de grande transformação, sobretudo um processo de industrialização artística e de consolidação de uma indústria cultural. A crítica, portanto, vê-se diante de novos paradigmas, e muda não somente a sua forma, como também o conteúdo (GARCIA, 2004, p. 110).
Este é o primeiro momento do século passado em que a discussão é direcionada à estética da arte mesmo. E é também o momento em que há uma distinção clara e admitida sobre quais produtos são direcionados a que classe social.
Alguns autores apontam que, a partir desse momento, temos que separar o que consideramos obras de arte daquilo que se conhece como produtos da indústria cultural. As obras de arte seriam criações que seguem padrões culturais estéticos refinados, e os produtos da indústria cultural seriam bens destinados ao consumo das grandes massas, que obedecem às leis da produção em grande escala. Essa distinção é polêmica (…) (GARCIA, 2004, p.110).
Dá-se início à diferença entre o comercial-mercadológico e a estética da arte. A crítica jornalística precisa seguir atendendo seu público, cada vez mais abrangente e diversificado. E a forma e o conteúdo rompem-se para aderir ao formato informativo como nunca antes. Aqui, determinantemente, a crítica jornalística se une a crônica/resenha, e ratifica seu lugar de texto opiniático e, por que não dizer, discriminatório.
Quando se fala em literatura, fala-se de livros colocados no mercado, ou livros seguindo padrões mercadológicos. A música se transformou em produto da indústria fonográfica. (…) A crítica estética desapareceu, tendo sido substituída pela resenha. Por quê? Porque a crítica estética seria aquela dedicada a apreender o sentido profundo das obras de arte e situá-las no contexto histórico; e a resenha crítica não passaria de uma análise simplificada do produto cultural, com nítido contorno conjuntural (GARCIA, 2004, p. 110).
A crônica, como escrita propriamente jornalística, invade a crítica com seus comentários breves, geralmente à margem da obra, direcionada ao consumo popular. A crítica estética perde espaço para a função de serviço, de orientação para escolha de produtos culturais. Ela é utilitarista e vê a obra à distância de suas questões estéticas de criação. Segundo Garcia, com frequência, críticos de jornal se autodenominam cronistas e dizem escrever “resenhas críticas” ou “crônicas teatrais” – a falecida crítica Barbara Heliodora no texto A concórdia do teatro, de 1957, escreve: “E nos queixamos, nós, pequenos cronistas teatrais, da ‘susceptibilidade’ dos atores de hoje, da facilidade com que se ressentem, se zangam, se enfurecem!” (Tribuna da Imprensa – Rio de Janeiro, 04/12/1957. In: HELIODORA, Barbara, 2007, p. 44.). Bem, diante de uma opinião, pessoas costumam reagir emocionalmente.
É dentro desta perspectiva, de atender à demanda do público das épocas, que se dividem os quatro grandes períodos da crítica de teatro no Brasil. São eles:
- De meados do século XIX até o início do século XX.
- De 1900 a 1939 – Modernismo. Anos 1920, cujos expoentes foram romancistas como Álvares de Azevedo e Machado de Assis, e dramaturgos como Martins Pena e Arthur Azevedo.
- De 1940 a 1968. Um período prolífero, tanto por ter assistido à consolidação de um moderno teatro brasileiro quanto por ter tido o maior número de críticos com alguma constância de trabalho. Entre eles, pode-se citar Alcântara Machado, Brício de Abreu, Oswald de Andrade, Anatol Rosenfeld, Alberto d’Aversa, Sábato Magaldi, Décio de Almeida Prado, Barbara Heliodora e Yan Michalski.
- Dos anos 1970 até 2000. A crítica teatral passou por altos e baixos, chegando quase a desaparecer das páginas dos jornais; mesmo assim, teve críticos importantes, como Mariângela Alves de Lima e Alberto Guzik e os remanescentes do período anterior. Nos anos 1990, poucos são os destaques, além dos nomes já conhecidos.
Entre nomes e “crônicas-críticas”, o tema da construção do teatro nacional sempre foi protagonista. Algo que hoje não é uma militância da crítica teatral, porque temos um teatro brasileiro, e ele tem história. Além disso, algumas tentativas de furar a barreira da recusa jornalística à apreensão estética também são notáveis entre alguns críticos já mencionados na lista anterior.
De onde falar, hoje
Se eu faço isso é com o objetivo de saber o que somos hoje.
Michel Foucault
Olhando com respeito para este passado que também nos forma, mas sabendo que os discursos se constroem em consonância com seu próprio tempo, não é difícil dizer que, se o tempo é outro, a crítica também há de ser. Quanto ao discurso, entretanto, mantém-se uma interrogação.
O discurso, sua manutenção e uma questão: por que alguns são preservados? Por que, à revelia das oposições, alguns discursos têm sua permanência conservada? Uma hipótese seria pensar como pode se dar a relação entre a durabilidade do discurso e a recepção, ou, entre a estabilidade que algumas falas adquirem e a sociedade.
Este vínculo já foi brevemente tratado neste texto, ao abordar a norma e sua fixidez como uma condicionante para a permanência de determinadas práticas enunciativas. Mas sobre o discurso ainda interessa um maior desdobramento. Ao falar de discurso, Foucault procurou, inicialmente, identificar e diferenciar neste o que corresponde a suas leis de funcionamento, ou seja, às condições sociais e históricas para que se configure cada enunciado, incluindo a parte que obedece às condições próprias da natureza da enunciação, partindo de categorias como gramática, linguística e formalismo. No livro A arqueologia do saber (1969), o autor define discurso por:
Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar (e explicar, se for o caso) na história; é constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência (FOUCAULT, 2007, p. 132-133).
O discurso, portanto, reúne um conjunto de enunciados que embora possam tratar de campos temáticos distintos, obedecem, ainda assim, a regras de funcionamento comuns. O discurso obedece a uma ideia de ordem própria de um período específico, e tem, dessa forma, uma função reguladora, constituindo mecanismos de organização do real por meio da produção de saberes e de práticas. É preciso esclarecer, contudo, que o discurso não tem história, ele está na história como um refúgio de seus fragmentos.
O discurso, assim entendido, não é uma forma ideal e intemporal que teria, além do mais, uma história; o problema não consiste em saber como e por que ele pôde emergir e tomar corpo num determinado ponto do tempo; é, de parte a parte, histórico – fragmento de história, unidade e descontinuidade na própria história, que coloca o problema de seus próprios limites, de seus cortes, de suas transformações, dos modos específicos de sua temporalidade, e não de seu surgimento em meio às cumplicidades do tempo (FOUCAULT, 2007, p. 133).
Por exemplo, o discurso da crítica teatral hoje não está exposto apenas em críticas de um só nome de autor, mas em todo o repertório de escritos e falas que compõe a atual produção. Fragmentado, portanto. Estes textos têm entre si semelhanças, aproximações, e, permitem que, ainda que incipientemente, alguns rastros sejam percebidos e evidenciados. O discurso não é a materialidade do texto propriamente, mas passa por ela, e a partir daí, pode ser observado.
(…) [não tratar] o discurso como documento, como signo de outra coisa, como elemento que deveria ser transparente, mas cuja opacidade importuna é preciso atravessar frequentemente para reencontrar, enfim, aí onde se mantém à parte, a profundidade do essencial. (FOUCAULT, 2007, p. 157).
O atravessamento da “opacidade importuna” se dá por meio de um recorte horizontal dos mecanismos que articulam o discurso, ou seja, a análise das condições enunciativas e da temporalidade na qual se inserem. Estou falando de hoje, e mais precisamente, de nós, que escrevemos críticas de teatro fora do jornal.
O primeiro atravessamento contido no nosso (vou chamar de nosso) discurso sobre crítica teatral, baseado neste olhar de quem vê de dentro para fora, e que também precisa visualizar retalhos despontando da opacidade, é este já dito “fora do jornal”. Uma geração de críticos que escreve fora do jornal, em sites e blogs online. Começo, então, pelo novo lugar.
Só a estadia fora do jornal já implica reformulações formativas e receptivas, implica ainda mais liberdade de escrita. A internet, além disso, propicia uma descentralização produtiva, o eixo Rio-São Paulo e seus grandes jornais não delimitam mais a publicação dos textos e, com isso, a produção artística de outros estados entram em diálogo com a crítica e, no nosso cenário nada democrático de valorização, é a crítica um dos principais meios de visibilidade dessas criações.
Mesmo distante ainda de um ideal de descentralização da produção da crítica teatral, pode-se citar quatro projetos que nos últimos anos expandiram os horizontes para os leitores de críticas, sejam eles artistas ou não. A revista Questão de Crítica (da qual faço parte), do Rio de Janeiro, e os blogs Teatrojornal, de São Paulo, Horizonte da Cena, de Belo Horizonte e Satisfeita, Yolanda?, do Recife. A mais antiga, a Questão de Crítica, foi fundada em 2008. Mais recentemente, estas quatro casas se reuniram em uma plataforma, a DocumentaCena, com o intuito inicial de impulsionar um intercâmbio entre as pessoas envolvidas nesses espaços. Porém, após alguns trabalhos realizados em festivais de teatro já envolvendo o nome desta parceria, percebemos que este encontro pode ser mais que um intercâmbio, e que talvez seja um coletivo.
Porque os discursos do nosso tempo nos atravessam, não somos donos deles, e o protagonismo dos coletivos é muito recente, por isso, é mais uma questão de perceber do que de nomear. Outro atravessamento vem disso, está no uso do “nosso”, nosso discurso. Não tem um nome de autor em destaque, uma figura de autoridade, uma ou duas assinaturas únicas a representar a época. Somos muitos e não precisa elencar os nomes. Ainda que individualmente sejam distintas as formações, os estilos e as subjetividades implícitas nos textos.
A crítica está em primeiro plano. Em primeiro plano inclusive como objeto de estudo e pensamento sobre a mesma. A forma da crítica não está dada. Cada texto é um, porque cada espetáculo é um. Aos leitores, espera-se, que não haja expectativas quanto à norma, pois, não há intenção de formar uma. Como não há também intenção de atender às expectativas demandadas de outros tempos – nem dos artistas, nem do leitor não artista, chamado assim uma vez que a denominação “leitor comum” não contempla qualquer categoria de leitor. Não tem leitores comuns de crítica de teatro. O que seria um leitor comum?
Estes apontamentos rudimentares são possíveis porque nos demos a tarefa de pensar no que estamos fazendo, como artistas criadores que pensam sobre o próprio trabalho. Longe de poder/querer ver tudo, a opacidade e seus limites impostos são aliados, mas é um bom exercício. Estamos aqui, circunstanciados historicamente, sabemos que todas as escolhas, cientes ou não, que temos feito, ocorrem porque este tempo histórico permite. Nossa atenção, entretanto, volta-se para os cortes e as transformações discursivas. Em sociedade se diz apenas o que é possível, e se o tempo possibilitou este aparecimento, o que nos resta é ganhar corpo, para um dia, desaparecer.
Referências bibliográficas:
FOUCAULT, Michael. O que é um autor? Trad. António Fernando Cascais e Eduardo Cordeiro. 3ª ed. São Paulo: Passagens, 1992.
________. A arqueologia do Saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
________. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 21ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011.
GARCIA, Maria Cecília. Reflexões sobre a crítica teatral nos jornais: Décio de Almeida Prado e o problema da apreciação da obra artística no jornalismo cultural. São Paulo: Editora Mackenzie, 2004.
HELIODORA, Barbara. Escritos sobre Teatro. Org. Claudia Braga. São Paulo: Perspectiva, 2007.
OSORIO, Luiz Camillo. Razões da crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
Mariana Barcelos é atriz, teórica do teatro formada pela UNIRIO e graduanda de Ciências Sociais pela UFRJ. Desde 2008 escreve para a revista eletrônica Questão de crítica.