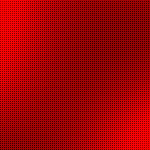Experiência do tempo amoroso
Crítica da peça Cine gaivota, dirigida por Daniela Amorim
Tempo, presença, dispositivo, o instante como acontecimento, o fotográfico como parada falseada do tempo contínuo. A continuidade do tempo pode ser messianicamente salva pela parada do instante. O que se quer salvo é o amor, ou a presença do ente amado que faz viver, mesmo que em morte, o ser que ama. Talvez, esse seja o grito surdo que se faz ouvir do espetáculo: o amor como uma experiência revolucionária do tempo. O título se mostra como um truque que nos coloca modos de representação que são omitidos: modos de cinema. O dispositivo é formado pela palavra, pela plástica, pela luz. Um teatro da palavra, mais do que da imagem do cinema classicamente concebida, mas de uma palavra que faz ver, ao mesmo tempo em que subtrai visualidades que não podem ser exercidas em cena, mas podem ser visualizadas em uma relação com a técnica do escorço, ou pelos fragmentos que o desenho luminoso entre o claro e o escuro deixa ver. A escrita crítica não tem outro modo de se realizar a não ser perpassando esse mesmo caminho entre o discurso denunciativo e a subtração de narrativas que cabem na temporalidade imprópria da dramaturgia.
Cine gaivota estreou no Tempo Festival que aconteceu na cidade no mês de outubro e está em cartaz no Parque das Ruínas. O título evoca o cinema e a peça A gaivota de Anton Techekhov, que têm em comum a problematização do tempo impressa na dramaturgia de Emanuel Aragão em parceria com Manoel Friques. Fora do espaço do teatro está um objeto feito pela artista plástica Brígida Baltar, que assina a cenografia, e que se trata de uma pequena caixa-teatro em madeira em cujo fundo vemos um filme dos atores Emanuel Aragão e Fernanda Félix captado em um lugar que nitidamente é um palco de teatro, ou se faz palco pelo aparelho. Neste dispositivo (primeira aparição do desejo-cinema) a plateia em miniatura está evidentemente vazia, são os espectadores “de fora” que completam o dispositivo e onde nos é oferecida a experiência do escorço, que de forma transfigurada a dramaturgia concretiza. Essa concretização se faz por meio de uma progressiva operação mental baseada no instante, em que é exigida do espectador uma posição na qual ele não pode ser mais simplesmente aquele que acolhe o regime discursivo das imagens, do mesmo modo como acontece com os personagens por meio de suas matrizes reflexivas.
Podemos entender o escorço como a técnica da redução de um objeto distante para a dimensão relativa à posição daquele que olha. Pode-se falar da medida dimensional (em relação à nossa posição) de Emanuel Aragão que caminha no fundo do palco e que se faz diferente quando se aproxima demasiadamente da plateia. Isto causa um efeito de desestabilização de critérios fixos das imagens, colocando-as em um referencial com o espectador. Nesta cena inicial, uma narrativa em off de vozes superpostas localiza a fábula em um tempo que mistura um futuro catastrófico em que o sol nunca se põe (subtraindo para os homens a experiência do tempo), mas que se situa em nosso passado cronológico. O discurso denuncia o anacronismo do tempo, enunciado ainda pelo personagem Pedro, e tornado tátil pela experiência dimensional do escorço. Na fábula dramatúrgica, Pedro (Emanuel Aragão) comete um suicídio (como Kostia em A gaivota) e trava um embate verbal com sua mulher Ana (Fernanda Félix) por meio de fissuras temporais retidas como instantes anacrônicos, ou seja, fora do tempo cronológico que quebram a continuidade causal das ações – forma imprópria da dramaturgia que não agencia momentos de continuidade, mas de paradas e retomadas temporais que não são mais as mesmas, pois o tempo contínuo está sempre implícito. Isso nos remete a uma impossibilidade de sair do tempo, a uma tragicidade que lhe é própria. O anacronismo faz surgir tempos-afetivos e o cinema é o meio que possibilita o surgimento do fantasma do objeto perdido.
Podemos pensar numa qualidade do cinema na estrutura do espetáculo em sua tematização do instante, se o aproximarmos do recurso do congelamento da imagem. Como salienta o professor Benjamin Picado, o fato de não haver animação na imagem fixa não significa que ela não possa se prestar a produzir efeito semelhante – efeito de vivacidade – para o espectador. Esta discussão tem a capacidade de desestabilizar a noção de que o congelamento (o instante) cause, necessariamente, uma percepção diferenciada do olhar que vê o contínuo do animado. Pensemos, por exemplo, em La jetée de Chris Marker, filme feito com fotografias, cujo efeito de movimento se dá pela sequência das fotos, juntamente com a narrativa em off. O que se privilegia com o instante no espetáculo parece se aproximar das capacidades do olhar subjetivo, como é o caso do olhar da personagem Ana que, de modo incisivo como ponto de vista da dramaturgia, nos oferece a possibilidade de ficcionalização do instante.
Então, a possibilidade de experiência do tempo se dá em semelhança ao instante fotográfico que é explorado às últimas consequências como um modo de suprimir o tempo, tornando o instante como acontecimento. É o que faz, por exemplo, François Truffaut na cena final de Os incompreendidos, em que congela a imagem de Jean-Pierre Léaud e faz um zoom do mar ao fundo, ou Ingmar Bergman em Persona ao congelar um close de Liv Ullmann na cama do hospital como a imagem de uma morta. Lembrei-me do filme argentino Um conto chinês, de Sebastian Borensztein, em que um jovem chinês está perdido e sem conseguir se comunicar, já que ninguém entende seu idioma. Uma mulher lhe mostra fotos de família e seu filho diz que está perdendo tempo, pois o tal chinês não entende o que a mulher fala. Ela então responde: “Não tem problema, ele entende as fotos”. A foto em questão é de uma vaca que sintetiza a tragicidade passada na vida do jovem e que, mais adiante no filme, se revela como um estado de futuro para o personagem de Ricardo Darín. O filme termina como uma imagem de fotografia (mesmo não sendo congelada) da personagem que é o motivo amoroso do protagonista.
Os atores Emanuel Aragão e Fernanda Félix transitam com precisão de afetos na encenação. Suas figuras, ao mesmo tempo em que projetam o lugar nenhum do espaço e um tempo indeterminado, não deixam de imprimir uma medida fisionômica do presente. O trabalho de Emanuel delineia seu personagem com a consciência de ser um espectro, mas sabendo ao mesmo tempo que está exposto aos afetos de seu instante cênico. Isso lhe confere uma presença sutil sem artificialidades, mas com um tom diferenciado do cotidiano como, por exemplo, quando abre e fecha suas mãos na primeira cena, ou quando escuta a personagem de Ana e se abraça suavemente, ou mesmo em seu leve caminhar. Suas falas, embora claras, têm um modo de desaparecimento na respiração, como se esta realmente lhe faltasse em uma pequena medida. Suas ações parecem objetivar a captação dos últimos vestígios do vínculo com o tempo que deixou, só se transformando em uma espécie de resolução desesperada quando traz uma série de objetos para o espaço – últimas tentativas de manter o vínculo com o espaço imóvel.
Fernanda Félix compõe uma figura que imprime força sutil. Suas falas têm clareza e valorizam a acuidade do texto. Ela é responsável por tonalidades calmas e afetivas, também apresentadas no figurino criado por Paula Stroher. É importante dizer que na atriz não aparece um elemento de tensão, ou mesmo de contraponto ao de Emanuel, mas provoca um estado de suspensão, próprio do lugar amoroso, que parece ser a razão pela qual nos detemos naquele espaço quase vazio. Este quase vazio, em suas palavras e atitudes, é como algo que está lá, mas que não se sabe exatamente o que é, a não ser que está preenchido pelo desejo de conhecimento.
O desenho de luz de Tomás Ribas é fundamental para essa sensação de vazio, na medida em que nos oferece fragmentos iluminados. O escuro inicial é estimulante desta sensação que se desdobra ao longo da encenação. A meu ver, a luz se dá como acontecimento dramatúrgico e denuncia que a relação com o tempo sempre está implicada com uma esfera espacial, mesmo que a primeira seja mais plenamente investigada. A cenografia realizada pela artista plástica Brígida Baltar está nesta mesma direção – completa a temporalização do espaço, ao mesmo tempo em que traz elementos dispostos de modo que nos lembram dos estados oníricos. Um belo exemplo é o desenho do “chão” que é índice de uma cozinha (nicho/casa/cotidiano), mas que é feito de pó – transfiguração do transitório. Implicação de tempo numa fatura que se desfaz.
O programa da peça ainda traz um texto dos exercícios iluministas das dissecações realizadas pelos cirurgiões-barbeiros diante de uma audiência, como um palco teatral. Uma referência que nos leva ao pensamento sobre autoalienação e cisão perceptual em que se procura fugir da dor, como nos ensina Susan Buck-Morss.
Cine gaivota expõe um trabalho captado pela experiência, talvez, uma das razões dos trabalhos de arte. Mostra também amadurecimento intelectivo dos artistas envolvidos e, evidentemente, perspectiva crítica da direção de Daniela Amorim.