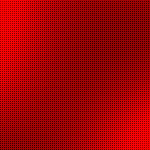A gênese da Vertigem
Conversa com Antonio Araújo, do Teatro da Vertigem

Conversa com Antonio Araujo, diretor do Teatro da Vertigem, sobre a trajetória do grupo e o livro A gênese da Vertigem – O processo de criação de O paraíso perdido.
LUCIANA ROMAGNOLLI: Que efeito esse olhar em retrospecto para a gênese do Vertigem surtiu no seu entendimento do teatro que vocês fazem?
ANTONIO ARAÚJO: Esse trabalho do livro veio do meu mestrado, portanto, tem um pouco mais de dez anos. Então ele revela o olhar que eu lançava naquele momento para a trajetória aí feita – e tem umas sobreposições de tempo aí. Um dado curioso foi a escolha de O paraíso perdido, e não da trilogia inteira, como era projeto original, à medida em que eu estava recuperando os documentros de O paraíso, voltando para o caderno de direção e as anotações. Identifico em O paraíso, ainda que de uma forma pouco consciente, alguns dos elementos centrais que vão atravessar todos os outros trabalhos do grupo, o processo colaborativo e a própria questão do espaço, que vai ficando mais forte. São elementos que aparecem em decorrência do trabalho, não por uma deliberação. Não havia um conjunto de princípios previamente estabelecidos.
A própria maneira como o grupo surge é curiosa. Começa como um grupo de estudos, por mais que, no fundo existisse um desejo de, quem sabe, fazer espetáculo. Mas, de fato, era um grupo de estudos da mecânica clássica aplicada ao movimento expressivo do ator. De fato, temos uma dinâmica de trabalho de grupo de estudos teórico-prático, com ênfase mais na prática. Nós nos encontrávamos toda manhã, líamos os textos do Galileu e do Newton, montamos uma programação de estudos, fazíamos na prática a pesquisa científica e, depois, íamos para uma pesquisa expressiva de como aquele conceito da mecânica clássica poderia ser explorado de uma forma específica. Alguns meses depois é que, diante do material que foi aparecendo, pensamos em juntar e fazer um espetáculo. Na origem do grupo, essa questão da pesquisa está colocada em primeiro lugar. Talvez, até por ser o primeiro, O paraíso fosse artisticamente mais imaturo que os outros dois. Mas, pensando sobre esse olhar retrospectivo do que a tínhamos feito até então, pareceu que poderia ser rico estudar esse processo e identificar elementos-chave que, de uma certa forma, vão transbordar para os outros trabalhos.
LUCIANA ROMAGNOLLI: A Cecília Almeida Salles, no prefácio, o apresenta como um crítico genético de seu próprio trabalho. Como você vê o lugar da crítica no teatro brasileiro hoje, tanto por parte de seus pares encenadores e acadêmicos quanto na mídia?
ANTONIO ARAÚJO: A leitura dos textos da Cecília foi bastante inspiradora, e eu de fato colho elementos do que ela levanta sobre crítica genética para me ajudar no desenvolvimento do trabalho que iria gerar o mestrado. Ela até diz que sou um crítico genético, mas tenho receio dessa nomeação, me sinto muito mais, na verdade, um artista que lança mão de elementos da crítica genética para pensar o próprio trabalho. Essa questão da crítica genética, que é a ideia de uma crítica ligada ao processo, me parece muito pouco, senão nada, incorporada pela crítica teatral, que tem uma relação com o espetáculo como evento acabado, resultado pronto, salvo raríssimas exceções, e reforça a lógica produtivista e consumista. Tem crítica jornalística que trata esse produto com estrelas ou uma série de qualificadores, e isso me parece um problema, além de outros, a perda de espaço dentro do jornal e um caráter muito mais de resenha e de divulgação do que se debruçar, analisar e problematizar o trabalho. Eu não acho que as coisas estão perdidas, não sou completamente pessimista, porque vão aparecendo outras possibilidades. Na medida que se percebe a decadência da crítica jornalística, tem um site como o Questão de Crítica, que é um alento, um lugar de reflexão onde o exercício crítico se dá. Independentemente de eu, enquanto artista, concordar ou não com a avaliação feita, esse diálogo com a crítica é fundamental para o meu trabalho. Outro lugar onde isso também aparece, com o crescimento dos programas de pós-graduação, são as revistas ligadas à academia, onde evidentemente a crítica ganha aspecto mais ensaístico, de fôlego mais longo. Nesse sentido, não me parece que a crítica teatral morreu, ela está encontrando outras formas de ocorrer.
LUCIANA ROMAGNOLLI: No livro, você se pergunta se o ensaio, pela sua efemeridade, seria o espaço mais fiel da arte teatral. Como fica o público nesse processo?
ANTONIO ARAÚJO: Isso começou a aparecer mais fortemente no Apocalipse. O que fizemos foi abrir o processo de ensaio para o público, claro que não o tempo inteiro, mas criando instâncias de abertura do processo. No O livro de Jó, foi quando nos demos conta, depois de mais de um ano em sala de ensaio, que o final estava errado, a dois ou três dias da estreia, quando o público entrou nos ensaios abertos. O Luiz Alberto de Abreu veio no terceiro dia da temporada e teve a mesma percepção. Precisamos reescrever. É um absurdo , estávamos há um ano e meio trabalhando e não tínhamos percebido. Esse episódio do Jó nos levou, no Apocalipse, a uma dinâmica da presença do público durante o processo. Na fase em que já tínhamos algum material, toda sexta fazíamos uma espécie de balanço da semana e apresentávamos todas as cenas desenvolvidas para pessoas que comentavam. Isso culminou num período de dois ou três meses de ensaio aberto, para quem quisesse. Não tinha debate ao fim do espetáculo para não forçar as pessoas nem criar constrangimento, deixávamos aberto para virem conversar conosco ou escrever.No BR3, passamos um questionário que as pessoas preenchiam se quisessem. Só que, como iam até o Tietê e depois as levávamos de volta até o Memorial da América Latina, tinham tempo, e quase 99% escrevia alguma coisa. Fala-se muito do triângulo ator, diretor e dramaturgo, mas percebo aí o público como outro vetor fundamental, que de fato interfere. Claro que eu fazia uma triagem, às vezes recebíamos questionários muito destrutivos ou propostas de em vez de fazer no rio, fazer num cemitério, o que seria outro espetáculo, mas, a maior parte das vezes, as sugestões e problematizações têm coisas muito interessantes. Vou contar um segredo: sou o primeiro a pegar os questionários, assim que acaba, e não durmo antes de ler todos e fazer uma tabulação do que é para cenografia ou música etc, no dia seguinte, passo para as áreas específicas. Nesse sentido, o público tem um papel criador. Não de receptor que cria a obra na cabeça dele à medida que asssite, como a ideia de obra aberta do Umberto Eco, estou falando de um aspecto criador mais concreto: ele faz com que o trabalho se modifique.
LUCIANA ROMAGNOLLI: Qual o lugar da realidade no teatro do Vertigem?
ANTONIO ARAÚJO: Esse diálogo com o real e com a realidade é um elemento fundamental dos processos de criação dos trabalhos. Se eu penso em relação à questão do espaço, isso foi se intesificando ao longo da trajetória do Vertigem. No caso de O paraíso, quando escolhemos a igreja como espaço de apresentação, provocamos toda uma reflexão sobre o lugar do teatro dentro da cidade; no O livro de Jó, fomos durante o processo de criação fazer uma série de visitas a lugares da cidade que ajudariam na composição dos atores; no Apocalipse, usamos o mesmo procedimento de trabalho em determinados lugares da cidade, mas aí não só para os atores, mas também para levantar elementos para a dramaturgia. Quando chegamos ao BR3, o processo é o lugar. Não partimos de um tema, como Aids ou o fim do mundo, como nos anteriores, mas de três lugares muito concretos, Brasilândia, Brasília e Brasiléia, e a viagem por eles foi detonadora do processo de criação. A mesma coisa está acontecendo agora com o bairro do Bom Retiro. É o lugar que deflagra o trabalho. Essa conexão com o real é muito presente no processo de criação e também, evidentemente, aparace no espetáculo. Ao pegar um hospital de verdade, com maca de verdade e cheiro de éter, e construir ali dentro uma ficção… É o ficcional e o real em fricção. Um mito ou uma história tensionada dentro de um espaço, digamos, real. Claro que o teatro italiano é real também, mas é um lugar institucionalmente já esperado de algo ficcional. O hospital ou o presídio não, são espaços criados para outras funções, e o que vai justamente tensionar ou friccionar os sentidos daquele espaço com os sentidos ficcionais da obra.
LUCIANA ROMAGNOLLI: Que vantagens você vê no descondicionamento do público numa relação com o espaço não-convencional? Além disso, e além de o site specific interferir na dramaturgia, seria também uma maneira de encaixar o teatro no cotidiano da cidade?
ANTONIO ARAÚJO: Já vi trabalhos de site specific muito ruins e de palco italiano que marcaram minha vida. Então, não acho que o site specific é melhor que o palco italiano. Agora, acho que talvez crie experiências distintas. Quando você vai a determinado lugar carregado de memórias e histórias – como entrar no presídio ou como quando fizemos Apocalipse no Dops, que havia sido usado para os presos políticos durante a ditadura – é impossível não se confrontar com elementos presentes. O espectador não está vendo algo longe, sentado em sua poltrona, mais como observador. Numa experiência como essa, você é assaltado pelo trabalho de todas as formas, tem que se movimentar e é atravessado por sons e cheiros, seus sentidos são mobilizados por aquele lugar. É um tipo de dinâmica que intensifica o caráter experiencial teatral. Além disso, para nós, faz muito sentido poder levar o teatro a outros lugares da cidade que não os institucionalmente já convencionados, causando uma interferência concreta na vida da cidade e das pessoas, revelando aspectos da cidade que elas não percebem ou para os quais estão anestesiadas. Quando levamos o BR3 ao Tietê, em São Paulo, que é um grande esgoto a céu aberto, estávamos, de certa forma, reativando um não-lugar e reincorporando para aquelas pessoas o rio da cidade delas. Isso provoca uma inversão de olhar da cidade. Muitos espectadores escreviam que é muito diferente ver a cidade de dentro do rio, olhar as marginais. E tem também um aspecto de “retorno do recalcado”, aquilo que talvez a cidade não queira ver, abafe, esconda, higienize, e trazemos à tona de novo. Recolocamos o problema em evidência.
LUCIANA ROMAGNOLLI: Qual a relação, no processo do grupo, entre o depoimento pessoal dos atores, um campo individual e subjetivo, com dramaturgias de crítica social, um campo coletivo?
ANTONIO ARAÚJO: Existe a confusão que depoimento pessoal seria sinônimo de baú da memória. Há esse aspecto memorialístico sim, porém, acho que é mais do que isso no nosso trabalho. Ele é também um posicionamento crítico do ator frente a uma determinada questão, como se acredita ou não no fim do mundo. Tem um aspecto reflexivo e crítico. Agora, na medida em que se tem esses depoimentos individuais dentro do processo, eles vão se conflitar. E do choque vai justamente se materializando um depoimento coletivo do grupo. Por isso, me parece que há, o tempo inteiro, uma dinâmica individual e coletiva. Agora, como você mesmo aponta, à medida em que estamos na cidade, Brasilândia ou Bom Retiro, e o que move o trabalho é o que está acontecendo no bairro ou na região, já temos uma dimensão pública ou coletiva que se impõe e é o motor do processo. Se estamos no Bom Retiro fazendo pesquisa de campo, vamos encontrar com pessoas e conversar, e o encontro com determinado morador vai nos atravessar e repercutir no trabalho de criação. Aí volto para a pergunta anterior: à medida em que abrimos o ensaio para o público, temos também a dimensão de uma coletividade que vem interferir, problematizar, criticar e sugerir elementos para o grupo. São vários âmbitos de coletivo: o do Vertigem, o do bairro, o da cidade.
LUCIANA ROMAGNOLLI: No ano passado, a Mariana Lima deu uma entrevista à revista Bravo!, em que falava das situações-limite nas vivências com o Vertigem e de como a afetaram física e psicologicamente. Que tipo de entrega e comprometimento ético você espera de seus atores hoje e como se chega a isso?
ANTONIO ARAÚJO: O tipo de processo que fazemos tem um grau de mergulho. São processos longos e que acabam, de uma certa forma, provocando um aprofundamento em questões que, claro, se ensaiássemos um ou dois meses, não poderia acontecer. Outro aspecto diz respeito a esse depoimento pessoal, a não ter o ator executor, mas um ator propositor, criador, crítico, pensador, que se coloque dentro do trabalho. Isso, naturalmente, já sugere e solicita um outro posicionamento. Ao lidar com espaços não-convencionais, naturalmente há um elemento de risco envolvido. Risco físico mesmo e também psicológico. No BR3, a possibilidade de cair dentro do rio existe e faz parte do trabalho. Quando entramos no hospital, a atmosfera do lugar nos afeta e todos são atravessados por aquilo. No Dops, quando começamos era dificílimo pela atmosfera daquele lugar, ensaiávamos uma ou duas horas e nossa energia acabava – e costumamos fazer ensaios longos sem cansar. Todos esses elementos criam um estado de presença do ator que é outro, e isso aparece tanto no processo de criação como durante as apresentações: esse elemento do perigo, do risco. Tem um aspecto ligado à performance aí.
LUCIANA ROMAGNOLLI: Você acompanha o desenvolvimento das carreiras da Mariana Lima e do Matheus Nachtergaele?
ANTONIO ARAÚJO: Não consegui ver os últimos trabalhos. A Mariana passou muito tempo com o grupo entre O livro de Jó e o Apocalipse. O Matheus ficou em O paraíso e Jó. São dois atores que têm essa capacidade de entrega e de mergulho, não têm medo de arriscar e visitar lugares menos confortáveis para eles, zonas mais escuras, lugares que não conhecem. Mas esse é, de certa forma, um dado que aparece nos atores nos processos do Vertigem.
LUCIANA ROMAGNOLLI: Os espetáculos do Vertigem são obras de longos processos, mas BR3, por exemplo, teve poucas apresentações. Vocês conseguem mantê-los em repertório?
ANTONIO ARAÚJO: Há dois ou três anos apresentamos O livro de Jó no Chile. Os espetáculos podem ser refeitos e reapresentados, mesmo com os atores que saíram, tanto que nossa primeira opção é sempre chamar quem fez; se não pode, substituímos. Agora estamos artisticamente mais interessados no Bom Retiro, é o trabalho mais recente que está mobilizando nossos corações e mentes. O nosso motor para criar o Jó, lá atrás, tinha a ver com a questão da Aids, diferente hoje, mas, no Chile, ocupamos um hospital público em Santiago, onde a qualidade do atendimento era precária, e o fato de levar o espetáculo para as dependências desse hospital, de certa forma, chamava a atenção para o problema da diferença de tratamento e de qualidade entre o hospital público e o privado. Sinto que os espetáculos vão criando outras dimensões à medida que continuamos apresentando e, quando viajamos, os recriamos para o novo espaço, incorporando elementos daquela cidade e daquele lugar.
LUCIANA ROMAGNOLLI: No momento, vocês estão envolvidos em um projeto de imersão no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Que questões esse site specific trouxe ao grupo?
ANTONIO ARAÚJO: Ainda estamos no meio do processo, começamos no fim de 2010, com algumas interrupções. Passamos três meses para o dramaturgo, Joca Terron, escrever a primeira versão do texto. Deixamos de lado a questão histórica do bairro, que estava muito presente no início – inclusive com personagens históricos que chegamos a improvisar. Esses elementos foram para o segundo plano. O que está acontecendo no Bom Retiro hoje, as tensões presentes, talvez estejam mais em evidência. São tensões de trabalho – não estou falando de violência, são tensões sutis entre as diferentes comunidades que moram lá, ligadas a abandono de determinados lugares do bairro em detrimento a projetos de embelezamento.
LUCIANA ROMAGNOLLI: Por que escolheram criar no bairro?
ANTONIO ARAÚJO: A nossa relação com o Bom Retiro é antiga, o Apocalipse foi todo ensaiado lá por mais de um ano; e outro elemento é a presença desses fluxos migratórios vindos a São Paulo e ao Brasil.
LUCIANA ROMAGNOLLI: Você esteve recentemente fazendo uma residência artística na Bélgica, como foi?
ANTONIO ARAÚJO: Foi em janeiro, uma experiência muito bacana e curta. Trabalhamos durante duas semanas com arquitetos e urbanistas belgas, num processo de troca. A residência foi feita num lugar chamado Vrac /L’escaut, um escritório de arquitetura e urbanismo com diálogo com o teatro. Eles têm até um espaço de apresentação lá. E trabalham de forma colaborativa. Aí, queriam trocar, tanto com interesse por essa relação que temos entre teatro, arquitetura e cidade, quanto por esse modo colaborativo de trabalhar. Foi muito rico, um outro contexto cultural para nós. Acabamos fazendo várias performances em Bruxelas. Os arquitetos propuseram, por exemplo, que fizéssemos intervenções numa linha do bonde que atravessa a cidade de Norte a Sul.
LUCIANA ROMAGNOLLI: O Vertigem tem alguma perspectiva de se apresentar em Belo Horizonte?
ANTONIO ARAÚJO: O Marcelo Bones chegou a dar uma sondada, mas o problema de nos apresentarmos no FIT agora é que estamos à beira de estrear o próximo trabalho. Tomara que ele continue (como diretor artístico do festival) e possamos, quem sabe, na próxima edição trazer os dois trabalhos que não vieram a Belo Horizonte: BR3 e o do Bom Retiro. Nesse momento, a previsão de estreia é maio – que pode virar junho – e depois continuamos ensaiando. Queremos ficar um tempo em São Paulo, justamente para ouvir as pessoas…
Link com informações sobre o livro de Antonio Araújo A gênese da Vertigem – O processo de criação de O paraíso perdido http://www.editoraperspectiva.com.br/index.php?apg=cat&npr=962
Luciana Eastwood Romagnolli é jornalista formada pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Literatura Dramática e Teatro, e atua no jornal mineiro O Tempo.