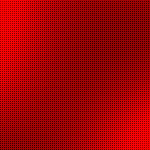Narrar, interiorizar, dialogar, descrever, caracterizar… atuar
Crítica da peça Corte Seco

Em cartaz até o fim de janeiro no Espaço Cultural Sérgio Porto, Corte seco, peça da Cia Vértice de Teatro dirigida por Christianne Jatahy, coloca em cena algumas questões que, a princípio, parecem pertencer exclusivamente ao universo do teatro: os exercícios, procedimentos e questões da criação de um espetáculo teatral.
Qual seria o interesse, do ponto de vista do espectador, por uma peça que expõe um processo? Qual é a conexão entre a pessoa que não faz nem estuda teatro e um espetáculo que abre fendas na sua espetacularidade e se autoficcionaliza? Se é possível dizer que os trabalhos deste grupo, assim como os de diversos outros grupos que atuam no teatro carioca, se desenvolve a partir do que se convencionou chamar de pesquisa de linguagem, como fica a relação entre a cena e o público? Acho que se criou uma mitologia em torno desse segmento, que sufoca um pouco o olhar do espectador. É como se existisse um discurso que diz que quando uma peça se volta sobre suas formas ela se fecha para o espectador. Esse discurso é um pouco velho, mas ainda está por aí. Corte seco oferece uma oportunidade pra levantar o debate.
Antes de mais nada, é mesquinho o discurso que prevê o espectador de teatro como alguém que na verdade não se interessa tanto assim por teatro. Acredito que o público de Corte seco – assim como de muitas outras peças em cartaz no Rio que não vão ser incensadas com toda sorte de superlativos – é qualquer um. Qualquer um não quer dizer todo mundo. Qualquer um é, a meu ver, uma potencialidade. Não tem nada nessa peça que exclua o espectador. Qualquer um pode ter as ferramentas necessárias pra lidar com uma peça de teatro: interesse, curiosidade, atenção. Ferramentas simples. O que não dá pra usar diante de uma peça como essa é o conhecimento sobre “o que é teatro”, “como se deve fazer teatro”. Isso poderia ser dito a respeito de um número imenso de outras peças.
E se estendêssemos o sentido da expressão “pesquisa de linguagem” para além do seu uso comum no contexto de experimentação formal no teatro ou nas artes de modo geral? E se pensarmos que a “linguagem” em questão não diz respeito apenas ao trabalho do ator, à construção e desconstrução dos dispositivos de ficção e às operações de uma encenação? Linguagem não é necessariamente um apanhado de códigos artísticos, mas também um mecanismo do cotidiano. Todos nós sabemos, instintivamente, a lidar com linguagens as mais diversas.
Os processos ou procedimentos expostos, mesmo sendo à primeira vista os procedimentos de criação de uma peça de teatro, podem ser vistos também como procedimentos, por exemplo, da fala. A fala cotidiana é extremamente complexa, cheia de atravessamentos, ambigüidades, comentários. E é bastante fragmentada. No dia a dia, narramos e descrevemos fatos, caracterizamos aqueles que conhecemos, dialogamos com quem está à nossa volta e interiorizamos o que pensamos ou sentimos, como apontam os verbos afixados nas cadeiras que os atores usam em alguns momentos da peça: narrar, descrever, caracterizar, dialogar, interiorizar. O fato de que a peça se inicia com uma exposição dessas divisões e depois opera um tensionamento nessas divisões (como quando um ator tem que correr para outra carreira quando passa da descrição pro diálogo, por exemplo) pode ser um indício de que, na vida, não lidamos com a linguagem de forma racional e simplificada, mas embaralhamos nossas ferramentas de comunicação, lançamos mãos da narração, da descrição, do diálogo, com um alto nível de complexidade e que fazemos isso muito naturalmente.
A questão que parece se colocar então diz respeito a essa busca do teatro por renovar suas formas de lidar com a vida – e a vida é uma coisa com a qual todo espectador lida o tempo inteiro. A referida pesquisa de linguagem não se fecha nas perguntas sobre o teatro (mesmo que as tenha como ponto de partida), mas também levanta questões sobre as nossas formas de estar no mundo. Como o mundo se dá a ver? Com início, meio e fim, com protagonistas e antagonistas, falas coerentes e bem escritas por toda a parte? Conseguimos discernir o real da ficção diante, por exemplo, de um jornalismo televisivo tão espetacularizado? E quanto às histórias que ouvimos no dia a dia, das pessoas que estão à nossa volta, como sabemos se é verdade ou mentira? Vejo essas questões na peça e penso que elas podem ser discutidas por qualquer um. Diante da pergunta “Pra quê expor um processo?”, que eu ouvi em determinada ocasião, penso que talvez expor um processo seja só uma das faces. A questão mais interessante pra mim é pensar do ponto de vista do espectador: “O que eu posso ver na exposição de um processo?” Afinal, a coincidência entre a perspectiva do artista e a experiência do espectador é praticamente uma utopia. O espectador, diante da exposição de um processo, pode ver a relação entre as regras de um determinado jogo, o que não é nenhum bicho de sete cabeças e pode ser bastante interessante. Mas, no caso específico do Corte seco, me parece relevante a discussão que se dá em cena sobre a instabilidade entre o real e a ficção, até porque isso não é um problema só do teatro. No dia a dia, temos dúvidas quanto ao grau de autoficcionalização das pessoas à nossa volta. Muitas vezes nos perguntamos se uma pessoa está sendo ela mesma ou se ela está “fazendo um personagem”. Será que isso não pode ser de fato uma questão pra qualquer um? Essa oscilação entre a(s) realidade(s) e as construções de realidades é uma questão do mundo. Os dispositivos ilusionistas estão no mundo, não estão só no teatro. É nesse sentido que eu acho que o Corte seco, na perspectiva do espectador, pode ultrapassar o à primeira vista restrito universo da pesquisa de linguagem.
O jogo que a peça estabelece com o espectador não é o de contar uma história (mesmo que ela conte várias histórias dentro das ilhas de ficção que habitam a exposição do processo), mas o de criar uma relação que se dá ali na hora. E essa relação não é emocional, mas intelectual – só que não se trata de uma relação intelectual que demanda um conhecimento prévio de ambas as partes: é uma relação entre iguais, que demanda apenas a disponibilidade e a presença de ambas as partes.
Mas também podemos ver o que a peça fala sobre os procedimentos do teatro. Escolho uma das possibilidades: o trabalho do ator, especificamente no que diz respeito à já mencionada relação com as cadeiras que sugerem uma divisão da fala em narrar, descrever, dialogar, etc. No começo da peça e depois em determinados momentos, os atores dizem os seus textos se aproximando da cadeira que corresponde à natureza daquela fala. Eles brincam com isso, de forma descontraída, como quando não deixam um ator usar a cadeira que diz “interiorizar”. Manipular as cadeiras é também manipular as regras do jogo. Alguém pode ficar impedido de dialogar, por exemplo, se não conseguir alcançar a cadeira. E também é possível que se quebre a regra e que se dialogue apesar de não ter a cadeira. Uma convenção se constrói e se subverte em poucos minutos. Isso pode ser visto como uma maneira de mostrar o quanto é simples romper com uma convenção no teatro, como os modos de fazer estão aí para se experimentar, não para virar regra.
Acredito que a lida com as cadeiras revela, no entanto, um pouco da índole de cada ator, de suas noções de atuação ou de suas inclinações nesse momento. Na cena inicial, por exemplo, Branca Messina e Du Moscovis se comportam de maneira diferente com as cadeiras – e com isso não digo que haja qualquer desequilíbrio entre os dois, penso que ambos estão igualmente afinados e familiarizados com a cena. Mas ele se mostra mais expansivo, se movimenta mais, desvia o olhar do palco para a plateia e da plateia para o palco com mais agilidade. Ela joga o jogo de um modo mais sereno, mais reservado talvez, e quando fala olhando para a plateia, parece que o seu olhar se detém mais demoradamente sobre as pessoas. E ainda assim eles estão fazendo a mesma cena, cada um à sua maneira de dialogar, narrar, descrever. Não há ali um modo de fazer que seja um padrão a ser seguido. Isso abre o leque do gosto do público. Uma pessoa pode se envolver mais com uma atuação mais ágil – e vai acompanhar a história melhor através do Du. Outra pode preferir que a atuação seja mais delicada – e vai acompanhar mais a história através da Branca. E essa variação, que também pode se inverter e que acontece de outro modo em outras cenas, pode embaçar um pouco o julgamento da qualidade e abrir espaço para a percepção da diferença.
Em outra cena, diversos atores contam uma história. As cadeiras estão distribuídas no espaço, as falas da narrativa estão distribuídas entre os atores. A cada fala, um ator se aproxima da cadeira correspondente. Os atores vão se acumulando na cena em volta das cadeiras. Algumas têm dois ou três atores, outras têm um só. A maioria está com as funções de narrar, caracterizar ou descrever, um ator está na cadeira “dialogar” e diz as falas do personagem que está em evidência, e uma atriz está na cadeira “interiorizar”, ecoando o pensamento por trás da fala desse personagem que dialoga. Esse interiorizar é uma questão. Nesta cena, o interiorizar da Thereza Piffer é um dado de comicidade. Enquanto o outro ator fala, ela reage com expressões do rosto, demonstrando o que seria o subtexto do personagem. Esse recurso de demonstrar o subtexto do personagem remete a um certo registro de atuação. Esse interiorizar é comum em atores iniciantes, por exemplo, que querem mostrar a trajetória interior do personagem, ou em atores mais vaidosos, que querem trazer o foco da cena para si o tempo todo, ou ainda em atores que pensam que o espectador não é muito esperto e por isso ficam “explicando” a peça com essas “interiorizações”. E talvez seja possível que parte da plateia esteja rindo naquele momento por causa da própria situação da cena, mas outra parte da plateia pode estar rindo daquela maneira de atuar que está apontada ali, que se apresenta mesmo como risível.
Esse recurso que aqui provoca comicidade, que funciona como um comentário, é também um recurso de uma certa noção de dramaticidade que hoje soa um pouco antiga. O interiorizar (levado a sério) ainda parece ser um pressuposto da qualidade do trabalho do ator, geralmente associado a uma intensidade. É muito comum que se pense que o bom ator é aquele que vive intensamente um sofrimento no palco. E o fato de que esse interiorizar está ali como um recurso de comicidade, como um apontamento de que os atores não se levam tão a sério assim, parece propor uma ventilação bastante saudável nos modos de atuar. Parece que Corte seco propõe um tipo de atuação que não é tão calcada no desempenho das técnicas, mas que desencadeia uma relação com o espectador baseada na mútua atenção e na paridade da presença.
Leia também a conversa com a diretora Christianne Jatahy e a atriz Cristina Amadeo, realizada por Daniel Schenker e Daniele Avila.
Site da peça Corte seco
Vol. III, nº 17, janeiro de 2010