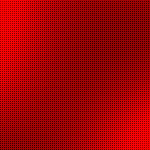Um balé como um levante da ralé

Preciso escrever sobre o Balé Ralé. E, de imediato, um desafio: olhar pra trás, mesmo que nem seja pra tão longe assim, para tentar reaver um processo que suscitou em nós alguns níveis de exposição e, diria mais, de posicionamento e comprometimento, diante da crise a que todos, enquanto sociedade, sempre nos vemos expostos, mas ainda mais no tempo presente, esse tão essencial ao teatro e ao teatro contemporâneo, esse grande enigma pro qual se flecham clichês e alguns preconceitos, mas que em suma é isso, uma visão do mundo a partir do presente. Não tenho como me separar de mim enquanto realizador pra olhar pro processo do Balé Ralé tentando suscitar quem eu era lá, por isso penso aquele processo a partir de hoje.
E hoje, o que ocupa um espaço muito forte em mim quando penso em Balé Ralé é uma ideia de levante. Quais os gestos capazes de fazer com que nos desprendamos das posições passivas diante do mundo e que nos coloquem no front, nas barricadas? O que nos obriga ao levante? Nossa primeira convocatória a esse levante que encarnamos ao montar Balé Ralé vem de muito tempo. Os personagens de Marcelino Freire, escritor pernambucano que há 27 anos fez a migração – real e poética – do sertão de Sertânia (um pleonasmo poético) pra cidade de São Paulo, nos seduziam e ecoavam em nós um desejo visceral de levá-los pra cena. Marcelino Freire abre, através de sua textualidade, uma escuta radical pra uma voz estridentemente negligenciada pela sociedade: a voz divergente, destoante, marginal, anormativa, dissidente, dissonante. O personagem marceliniano vem da rua e do mato. Nosso Teatro de Extremos se interessou pelo extremismo poético dessas vozes desde muito tempo. Balé Ralé não tinha esse título ainda para nossa peça (já era o título do livro de Marcelino Freire lançado pela Ateliê Editorial em 2003), mas seria o projeto que sucederia a montagem de Feriado de mim mesmo, de Santiago Nazarian, que estreamos em 2011. Estávamos interessados nas intersecções entre teatro e literatura, especialmente no recorte LGBT, também caro aos dois autores.
Nesse meio tempo fomos atropelados por Copi. São muitas as urgências que vão tendo lugar no nosso tempo e tentando se emancipar através de um grito – o teatro costuma ser sensível a estas vozes, acredito eu – e a montagem de O Homossexual ou a dificuldade de se expressar, de 2015, se impôs porque havia ali um caminho irreversível de afirmação de algumas perguntas fundamentais que o grupo vinha refletindo através de alguns experimentos cênicos: a sexualidade vista como linguagem, o gênero como enigma e o corpo político. Apesar da rasteira de Copi em Marcelino, o efeito pra nós e pra nossa pesquisa continuada foi libertador. Voltamos ao Marcelino Freire e sua obra de alguma maneira solidificados pelo levante de linguagem, a força da subversão narrativa e o devaneio copiano. E também pela recusa. O Homossexual ou a dificuldade de se expressar teve muita dificuldade de circulação, apesar de toda a aceitação das bem sucedidas temporadas no Rio de Janeiro que, talvez por ser a cidade onde habitamos como artistas, foi onde conseguimos despertar a “confiança” dos olhares de público, dos próprios artistas da cidade e até da crítica. Uma recusa bastante representativa, indicando que ainda há um incômodo evidente quando obras tentam se debruçar ético-esteticamente – sim, estamos conscientes de que era essa a nossa proposição – sobre questões indigestas para instituições e para parte de nossa sociedade.
Pois bem, volto ao levante. Essa palavra começou a reverberar em mim, começou a dar nome a uma sensação e, acima de tudo, à ação criadora que nos levou ao Balé Ralé, a partir da leitura do catálogo da exposição “Levantes”, que teve curadoria de Georges Didi-Huberman, inicialmente realizada no Centre Pompidous, em Paris, mas que passou pelo SESC São Paulo no segundo semestre de 2017. Didi-Huberman convida alguns pensadores pra refletirem sobre a situação de levante a partir de suas abordagens. E todos eles foram enfatizando, dando forma, a isso que chamei acima de sensações, mas que concretamente nortearam a criação do Balé Ralé. Minha leitura se deu, olhando retroativamente, no alívio de encontrar em nomes icônicos como Judith Butler, Jaques Ranciére, Antonio Negri e no próprio Didi-Hubermam, bons parceiros pra se pensar sobre uma outra palavra que venho usando muito nos processos que é a do “comprometimento” nosso, do artista, com o nosso tempo. Escolhi citar aqui um trecho de Judith Butler pra dar conta de algumas ideias:
Quem se levanta quando há um levante? E o que se levanta quando as pessoas fazem um levante? Fala-se de um foco de frustração e ódio, mas reações tão viscerais trazem à tona principalmente a consciência e a convicção, por parte de um grupo de seres humanos, de terem chegado ao seu limite. Seres humanos fazem levantes em grande número quando estão se indignam ou estão fartos de se sujeitar, ou seja, o levante é a consequência de uma sensação de que o limite foi ultrapassado. (BUTLER, 2017, p. 23)
O limite é o que me interessa. Os personagens de Marcelino estão todos nesse momento-limite. Insisti em usar no processo a imagem de que eram “vulcões um instante antes da erupção”, “depois dessa fala ele poderia matar ou morrer”. Isso tudo nos exigia um comprometimento – nas ideias, no corpo – de que nada era retórico. Era tudo visceral, concreto, corpóreo, era tudo a partir da experiência, ainda que do devaneio da experiência, o que nós entendemos como experiência possível destes personagens, traduzidos ou, insisto, encarnados no nosso corpo de artista. Portanto, cada um daqueles personagens é parte de um levante.
Pra conceituação, também me foi vindo uma ideia forte de vozerio. A primeira intenção era até de que ele nos sugerisse algum tipo de sonoridade, realizada pelos atores em cena, algum tipo de coro, ou algo assim. Depois fomos organicamente nos afastando disso. Mas essa ideia permaneceu por trás da cena: como se cada um daqueles personagens em seu momento-limite pudesse ser ouvido no meio da multidão. É uma voz que já existe. A nossa cena as amplifica.
Antes de prosseguir, uma observação: tive acesso a esses textos da exposição “Levantes” muito depois da estreia do Balé Ralé. Meu arrebatamento com relação a eles é justo porque eles bateram em mim como um pensamento configurado pra sensações que até já estavam claras pra nós após o processo, mas que também ressignificam e reinventam nossa cena em um processo contínuo. Mas voltemos ao texto: Butler é categórica ao afirmar que “um levante nunca é algo individual”. O teatro também não. Ele sempre é uma obra de esforço coletivo, mesmo quando só há um ator em cena, e mesmo que, caso raro, esse mesmo artista tenha empreendido sozinho todos os esforços pra levantar aquela cena. Ainda assim, é sempre coletiva a apreensão do teatro, visto que demanda que haja ao menos uma pessoa que se depara com a obra. Levantar significa pôr-se de pé. Mas, num levante, Butler ilumina novamente, seres humanos
levantam-se, mas não só pondo-se de pé: elas fazem um levante. Se apenas se pusessem de pé, seriam identificadas e expostas à lei – à polícia, ao exército, ao tribunal. No levante, porém, fica claro que não pretendem voltar a se sentar nem se deitar de imediato. A ação é reflexiva: elas fazem um levante e, com isso, ao se colocar na vertical, assumem seus corpos. (BUTLER, 2017, p. 24)
Sobre corpos, Balé Ralé levou-nos a pensar não só sobre o quê – a peça, o teatro, Marcelino, os personagens, os textos – e sobre o porquê – nossas perturbações, as indignações sociais, nossa pulsação ao levante. Pra fazer o Balé Ralé uma pergunta também era fundamental: quem? Que corpo é esse que fala? Se há uma potência avassaladora na proposta textual do Marcelino, qual corpo fala dessa potência, se deixa atravessar por ela, junta suas próprias forças e fragilidades pra tradução desse texto em nova potência?
Primeiro, já desde alguns trabalhos anteriores, o núcleo que vinha atuando nos trabalhos do Teatro de Extremos era composto por atores homens. Não tinha como acessarmos alguns textos do Marcelino sem a presença da mulher em cena. Há tempos uma distorção, ou um desdobramento da discussão, tornou protagonistas das questão de gênero os corpos LGBTQ mas (e não é à toa que nossa parceria nessa interlocução de pensamento seja a filósofa Judith Butler) as discussões sobre gênero começam nas reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e sobre as construções de um outro ideário de sociedade anti-patriarcal, masculina e misógina. Ou seja, a origem da discussão de gênero está na mulher. Pra nós, ter a mulher novamente nas nossas peças – ainda que o fato de a companhia ter seguido só com homens em cena talvez tenha sido muito mais uma coincidência do que uma intenção – passou a refletir um passo adiante sem o qual nosso debruçamento na questão de gênero permaneceria incompleto. Mais que isso, intuímos que o corpo em cena precisaria ser o da mulher preta com toda a carga representativa e toda a contribuição que a vivência dessa atriz traria ao processo.
E ainda outro questionamento nos conduziu ao entender com quem realizaríamos a peça, como chegaríamos ao nosso corpo de baile: se Copi nos abria uma cratera de enigmas com relação aos corpos dissidentes, desenhados sob sua ótica delirante e transgressora, o corpo trans nos pareceu importante de estar em cena. As discussões sobre a representatividade ainda não tinham se acirrado tanto, como depois foi-se observando em torno de algumas obras, mas pra nós essa necessidade era pra além de dar conta de uma urgência. Era entender como a textualidade extremada de Marcelino Freire se significaria através destes corpos. O Teatro de Extremos não é propriamente um grupo ultranormativo no que tange à sua formação. Somos um grupo formado por bichas na sua maioria, e sempre criamos juntos: a bicha gorda, a bicha suburbana, a bicha da favela e até as bichas não-bichas. Mas ainda assim nossos corpos não dão conta de todas as palavras, portanto essa escolha anda junto com a relação com um comprometimento espaço-temporal que escolhemos não ignorar. Que “vulcões” são esses se nos confortamos nas nossas próprias presenças? Somamos então a estas bichas, a bicha nordestina, a bicha não-binária, a bicha-mulher, mãe e preta, e a narrativa se deu com corpos marcados pelo levante contínuo destas trajetórias.
Uma coisa importante é que, ainda que a literatura seja a base dramatúrgica de Balé Ralé, a dramaturgia é bastante direta. É seca, árida, inóspita. Não necessitou de muita adaptação. Marcelino Freire diz se vingar através dos textos e uma boa vingança não admite rodeios. O autor também se diz um ator frustrado, mas duvido um tanto. Ele é um ator de outra ordem. Seu texto é pra ser dito, diria, ousaria dizer, que é mais pra ser dito que pra ser lido. Se lido ele dá um nó na garganta, ouvido ele causa náuseas.
Quando eu aviso que há alguma coisa de podre, de sangue nesse reino, é porque eu não quero enganar ninguém. É feio. Você chegar no meio da história e se deparar com um corpo caído, morto de paulada de cano, esmigalhado – principalmente quando esse corpo é de um garoto que não tem nem. Onze anos.
…só depois que ele foi embora é que eu chorei compulsivamente chorei assustadoramente doutor o que será de mim doutor por favor diga o que devo fazer que nome dar a essa filha que não quero ver nascer?
Tá rindo de mim?
Uma travesti em silêncio é a coisa mais triste que alguém já viu, puta que pariu. Quando a vida parece não ter fim.
Eu quero mais é distância. Você ter filho chorando, no seu pé. Fome, está escutando? Fome. O que você faz com a fome, tem remédio?
…quero saber o que vocês vão defender lá no congresso, pelo mundo, se uma menina morrer porque vocês não souberam resolver da melhor maneira, vai vendo, vou passar na cara de cada um a vida de rato, rá, rá, rá, que a gente vai vivendo, todo dia morrendo…
A paz é uma desgraça.
(Trechos de contos de Marcelino Freire que compõem o roteiro do espetáculo Balé Ralé.)
Trocando em miúdos, é tudo direto ao ponto. Ponto. Mas ainda assim, Marcelino sempre provoca a linguagem com uma interrupção, um obstáculo aos sentidos. Um texto sem ponto. Um texto que precisa se dar em um respiro, ou sem respiro. Um fluxo que se interrompe por interjeições. Vozes misturadas. Construímos a dramaturgia de Balé Ralé a partir de contos de 4 livros de Marcelino Freire: Amar é crime, Balé Ralé, Rasif – mar que arrebenta e Angu de sangue. Não havia nenhum norte temático em si, sabíamos apenas que não queríamos deixar de abordar a questão de gênero, e sabíamos que a escolha dos textos precisaria passar também pelo desejo dos atores em dizê-lo.
Poderia agora retomar as minhas anotações e descrever um pouco nosso processo de forma mais técnica. Como se deu a escolha dos textos, a intervenção da direção de movimento tão essencial – afinal corpo talvez seja a palavra que mais utilizei aqui e, lembremos, corpos aqui vistos sem separação entre corpo e mente, ou mentalidades, ou ideias. O mundo das ideias está no mundo dos corpos, está nos corpos. Também poderia citar o cenário que é a concretização de um lugar nenhum, mas que reflete uma ideia acachapante de multiplicação de vozerio, reflete a palavra e o próprio público, ou ainda a luz, que conversa muito com o cenário ao provocar edições, amplificações de vozes através do foco na fala, no corpo. E ainda a musicalidade com toda uma inspiração nortista, da guitarrada e da aparelhagem, não tenho como não citar minha passagem como diretor pelo norte nos últimos tempos, em processo criativo vivo e que contaminou muito esse trabalho, porque ajuda a revelar um brasileiro profundo, diverso, resistente, resiliente. Essa é a mesma referência que conduz o figurino e o visagismo. Mas aqui foquei no levante que o Balé Ralé representa, composto de vozes, urros, sussurros e da própria transgressão da palavra e através dela. Fomos palavrocêntricos. A palavra é uma urgência, porque a voz é urgente. Portanto aqui foquei no gesto de comprometimento que é nosso levante ao fazer o Balé Ralé.
Diante desse desafio de olhar pra trás, me pego pensando no gran-finale um tanto apaixonado que Jaques Ranciére faz no seu A partilha do sensível. Claro que aqui tomo a liberdade de simplificar um tanto, mas o filósofo faz uma linda convocatória. Após desenvolver fartamente os regimes históricos aos quais estivemos submetidos nas nossas práticas artísticas e ainda a própria reflexão sobre o papel da verdade na produção das narrativas, Ranciére convoca o artista a simplesmente inserir a sua prática no mundo do trabalho. Como bom pensador de origem marxista, pra Ranciére, pelo menos nesse texto, o mundo do trabalho é a constituição do próprio mundo, o mundo em si. E escrevo tudo isso ainda sob o eco forte de uma discussão que ocupa muito nossas sensibilidades nesse momento, que é sobre os lugares de fala e o lugar de fala no teatro. Insistia em dizer, no período do processo, que estávamos tentando a busca pelo lugar de escuta. Mas tentando respirar um pouco mais, fico me perguntando porque ainda insiste-se tanto em separar arte e vida, ou arte e mundo – coisa mais antiga! –, quando, inspirado por Ranciére, eu conclamaria meus pares artistas a simplesmente pensar que nossa arte é apenas uma parte do mundo.
Uma parte. Balé Ralé permanece sempre em processo porque é sobre o incêndio da ocupação do prédio em São Paulo em abril de 2018; sobre Marielle, a ativista, parlamentar, preta, lésbica e mãe, que quando escrevo esse texto faz 68 dias que foi assassinada e até agora não há culpados apontados por seu desaparecimento; sobre Matheusa, artista periférica, pessoa trans não-binária, esquisita, estranhona, que simplesmente nunca mais foi vista e se perdeu como fumaça no subúrbio do Rio. Todos esses fins se deram depois do início de Balé Ralé. Mas é por podermos nos juntar a esses fins extremos, por sermos, como artistas, parte comprometida com esses mundos que se findaram, que permanecemos fazendo. Nossos personagens estão a um passo do precipício. Nosso comprometimento é político porque nossos corpos o são. Porque há um levante evidente e sempre silenciado e nós tentamos ser uma parte dele. Um levante sempre fracassa. Quando ele tem sucesso, é uma revolução. Toda revolução se faz por levantes – um levante é o fracasso sem o qual a revolução não acontece. Uma parte do corpo coletivo no máximo da potência da mínima possibilidade que é a nossa linguagem. E isso é por militância e por necessidade do artista. Porque é sobre os quens, pra além dos oquês e dos porquês.
“Ponto. Nesse conto. Nesse faz de conta que não foi. Nada.”
Referências bibliográficas:
Butler, Judith: Levante. In Levantes (Org Georges Didi-Huberman). São Paulo, Edicões SESC: 2017. p. 23
Ficha técnica de Balé Ralé
Texto: Marcelino Feire
Concepção e Direção: Fabiano de Freitas
Elenco: Blackyva, Leonardo Corajo, Mauricio Lima, Samuel Paes de Luna, Vilma Mello, Tatiana Henrique e Juracy de Oliveira
Direção de Movimento: Marcia Rubin
Luz: Renato Machado
Direção Musical: Gustavo Benjão
Cenário: Pedro Paulo de Souza e Evee Avila
Figurinos: Luiza Fardin
Pesquisa Visual: Evee Ávila
Visagismo: Josef Chasilew
Assistência de Direção: Juracy de Oliveira
Direção de Produção: Veronica Prates
Coordenadora Artística – Quintal Produções: Valencia Losada
Coordenadora de Planejamento: Maitê Medeiros
Produtor Executivo: Thiago Miyamoto
Coordenador Técnico: Iuri Wander
Idealização: Fabiano De Freitas
Realização: Teatro de Extremos + Quintal Produções
Balé Ralé estreou em 11 de maio de 2017 na arena do SESC Copacabana dentro da Ocupação Marcelino Freire – palavra amassada entre os dentes que também contou com a montagem de outras duas peças a partir dos textos do autor: Contos Negreiros do Brasil e Um sol de muito tempo. Realizou uma segunda temporada no Espaço Sergio Portoem setembro de 2017. Foi convidado do XXIII Palco Giratório do SESC-RS, apresentando-se em Porto Alegre em maio de 2018 e estreará em São Paulo em junho de 2018. Balé Ralé é uma realização do Teatro de Extremos em parceria com a Quintal Produções. O espetáculo foi contemplado com o Prêmio Questão de Crítica 2018.
Fabiano de Freitas é diretor do Teatro de Extremos, diretor e idealizador do espetáculo Balé Ralé.