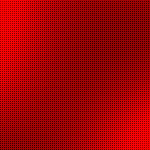A novidade como conceito eurocêntrico
NOTA: O texto a seguir foi apresentado em inglês na conferência “Newness and Global Theatre: Between Commodification and Necessity”, promovida pela Associação Internacional de Críticos de Teatro (AICT-IATC), da qual os autores fazem parte, no BITEF – Festival Internacional de Teatro de Belgrado, na Sérvia, em outubro de 2016.
Prefácio
“Deve haver, no mais pequeno poema de um poeta, qualquer coisa por onde se note que existiu Homero. A novidade, em si mesma, nada significa, se não houver nela uma relação com o que a precedeu.”
Fernando Pessoa, o poeta português, formulou pela boca de um de seus heterônimos, Ricardo Reis, o pressuposto fundamental de qualquer reflexão sobre o conceito de novidade (tanto na arte quanto fora dela): não há novidade em si, a novidade (se é que ela existe!) é sempre relativa a uma tradição, a uma narrativa, a uma história.
Falar do problema da novidade implica, portanto, a necessidade de uma contextualização prévia do lugar a partir do qual se fala. No título desta conferência internacional, “Newness and global theatre”, a exigência de uma tal contextualização é parcialmente satisfeita. O pano de fundo para se pensar o problema da novidade seria o assim chamado “teatro global”.
Mas o que é o “teatro global”? Será possível, num tempo como o nosso, marcado pelo ocaso das “grandes narrativas”, pretender que haveria “um” teatro global? Que povo, que cultura, teriam a prerrogativa de confundir o seu próprio teatro com “o” teatro global, as suas próprias novidades com “a” novidade?
O desconcerto que sentimos com o título desta conferência nos levou a dar um passo atrás. Não queríamos falar como porta-vozes do teatro brasileiro. Na verdade, o Brasil é tão vasto, diverso e complexo que nos seria impossível dar conta de um vislumbre de sua totalidade. Então decidimos conversar com os nossos pares, para ouvir alguns dos diretores de teatro que mais inspiraram a nossa produção crítica e dramatúrgica. O que eles pensam sobre novidade e teatro global?
Levamos um tempo para ter a ideia, então tivemos um curto período para levá-la a cabo. Conversamos com 7 diretores do Rio de Janeiro: Aderbal Freire-Filho, Marcio Abreu, Moacir Chaves, Felipe Vidal, Ana Kfouri, Pedro Brício e Adriano Guimarães. No meio do processo, decidimos que seria necessário preservar, de certo modo, a dialética da conversa. Foi quando decidimos escrever – e encenar – um diálogo. Fundimos todos os diretores em uma personagem ficcional. Quanto ao papel do crítico, também se trata de uma mistura fictícia de vozes sem nomes. Pois enquanto escutávamos as gravações e líamos os e-mails, reparamos que os dois aspectos do diálogo também estavam combinados. Como criadores e críticos, nos demos conta do óbvio: que as vozes dos artistas que admiramos revelam um pensamento crítico afiado.
Diálogo
CRÍTICX: Então, como estávamos falando, eu queria conversar com você sobre o conceito de novidade.
ARTISTA: Novidade? Sério?
CRÍTICX: Sim. Novidade e o teatro global: Entre a mercantilização e a necessidade artística.
ARTISTA: O teatro global inclui o teatro brasileiro?
CRÍTICX: Na verdade, acho que não. Acho que nós somos meio… novos.
ARTISTA: É, provavelmente. Eu tenho a impressão de que eles ainda nos vêm como alguma coisa que deve ser diferente, outra. A gente pode fazer o papel da mercadoria. De novo. Mas por que é que vocês, críticos, vão dedicar uma conferência pra falar de uma coisa tão desinteressante como a novidade?
CRÍTICX: Parece que é uma questão; que o teatro de alguma forma está sempre lidando com esse conceito.
ARTISTA: Eu não diria isso. Eu não acredito que um artista consiga criar alguma coisa pensando que aquilo tem que ser novo. Se você vende coisas, você tem que vender novos produtos, mas no teatro não.
CRÍTICX: Você tem que vender o seu trabalho, não tem?
ARTISTA: Não dessa forma. Como crítico, você acha isso importante? Se determinada coisa parece nova ou não?
CRÍTICX: Não, na verdade, não. Mas talvez os curadores dos festivais internacionais sim, e eles são bem mais importantes que os críticos. Eles estão no topo da cadeia alimentar. Se você quiser que uma peça sua seja programada num festival internacional, você tem que fazer alguma coisa nova. Sendo brasileiro, você provavelmente vai ter que fazer alguma coisa com ares de “novo mundo”.
ARTISTA: Eu tenho uma história pra contar sobre isso. Muitos anos atrás, uma curadora europeia – acho que ela era de Viena – veio ao Rio e viu uma das minhas peças. Ela conversou comigo depois da peça e disse que tinha gostado muito. Mas a peça não se adequava à ideia do festival de programar um espetáculo brasileiro. Ela disse que era muito europeu. Ela queria dizer que era teatro. Mas ela estava esperando uma coisa exótica, indígena ou relacionada à África. Ela não estava procurando algo que pudesse estabelecer um diálogo de igual pra igual com os europeus. Mas os dramaturgos e filósofos que nós conhecemos são os mesmos que eles conhecem. Nelson Rodrigues, por exemplo. O rigor formal do Nelson é como o do Beckett. Mas quando as pessoas passam a conhecê-lo em outras línguas, elas só prestam atenção no tema.
CRÍTICX: A gente ainda tem que falar sobre isso, né? Esse entendimento das coisas que divide Velho Mundo/ Novo Mundo, até quando falamos de teatro. As pessoas ainda se referem à invasão da América como “descobrimento” da América. A narrativa ainda é a mesma. Houve uma tentativa real de apagar a nossa história pregressa. Destruição de cidades, templos, documentos. Genocídio. Como no Holocausto. Mas esse fato é considerado um ponto de virada na história mundial. É o início da Modernidade. O reconhecimento da presença da América no globo terrestre é um fator definidor da Era Moderna.
ARTISTA: O que isso tem a ver com o teatro e a novidade?
CRÍTICX: A novidade é um problema da Modernidade, não do teatro. Antes (e a história do teatro é longa) a novidade nunca tinha sido uma questão. E hoje em dia, depois da Modernidade, novidade é uma coisa que só tem valor enquanto mercadoria. Mas o que eu estou tentando dizer é que a dicotomia “velho/novo” não é uma coisa simples. É algo que vai fundo na nossa identidade, na nossa história. Essa dicotomia definiu o nosso modo de ver numa perspectiva global. Se levarmos em consideração a narrativa que nos contam na escola, por exemplo, aprendemos que somos uma continuação. Ouvimos dizer que não tínhamos uma história pregressa. É claro que mais tarde você descobre que isso não é verdade. Mas é uma coisa que fica em você. E que interfere na forma como nós pensamos o teatro.
ARTISTA: O teatro brasileiro moderno no Rio e em São Paulo – nos anos 20 e 30 – era uma tentativa de fazer teatro europeu. Os livros de história do teatro nos contam como o teatro “civilizado” superou as produções populares.
CRÍTICX: A peça que é considerada o divisor de águas da nossa modernidade…
ARTISTA: Foi uma peça do Nelson Rodrigues…
CRÍTICX: Sim, Vestido de noiva, peça encenada por Zbigniew Ziembinsky, um refugiado polonês. O conceito de encenação e um nome europeu: a narrativa se encaixa perfeitamente. Ele poderia ter o entendimento prévio das mais recentes inovações no teatro.
ARTISTA: Mas há controvérsias. Alguns dizem que a montagem de A última encarnação de Fausto do Renato Vianna foi a nossa primeira encenação moderna.
CRÍTICX: Eu sei, mas um nome polonês é mais sólido. Vianna é um nome comum, qualquer um poderia ser um Vianna. A nossa história foi escrita pelo colonizado que se identifica com o projeto do colonizador. Era preciso um nome estrangeiro complicado cheio de consoantes. As pessoas acreditam nessa narrativa do Velho Mundo / Novo Mundo. Elas se veem como se fossem nascidas do Velho Mundo, como se não tivessem sua própria ancestralidade, como se fossem uma continuação. E o contrário é a mesma coisa. Então, nesse sentido, numa perspectiva global, nós só podemos ser considerados “novos” se nos agarrarmos àquela narrativa velha de uma ancestralidade oculta recém-descoberta de festividade autóctone naïf. O teatro que estudamos na universidade, a grande narrativa, é a história do teatro do velho mundo.
ARTISTA: Como se fosse “a” narrativa. Narrativa global.
CRÍTICX: Mas o que eu queria dizer é que toda vez que falamos em história do teatro primeiro temos que esclarecer de que história do teatro estamos falando.
ARTISTA: Então vamos falar de novidade na história do teatro brasileiro e tentar tirar alguma coisa disso. O Teatro Oficina, por exemplo. Oswald de Andrade. 1928: O Manifesto Antropófago. 1934: O rei da vela. 1968: A encenação de Zé Celso Martinez Correa. A Tropicália. O rei da vela é a nossa resposta à visão que têm de nós como um novo mundo fantasioso e colorido. Eles colapsaram a dicotomia. É por isso que nós não vemos as coisas em uma linha do tempo. As temporalidades estão misturadas. As referências estão misturadas. Isso também é o legado antropófago. Não dá pra traçar uma linha reta pra apresentar a nossa narrativa da arte moderna. Ela é cheia de anacronismos, lacunas, saltos e rupturas tardias. 1928, 1934 e 1968 estão misturados. A nossa história é um penetrável, como a Tropicália do Hélio Oiticica. Por isso é que eu acho difícil pensar em novidade. E eu não sou nostálgico. O Zé Celso nos fez ver como o Oswald de Andrade poderia nos salvar de acreditar em novidade, originalidade, singularidade. A verdade é que, para mim, não há nada de novo sobre a terra.
CRÍTICX: Para você ou… para o rei Salomão? Isso não está no Eclesiastes?
ARTISTA: Tudo sempre está em algum lugar. All novelty is but oblivion.
CRÍTICX: Isso também está na Bíblia, não está não?
ARTISTA: O que importa onde está? O que importa de quem é? O que importa quem disse primeiro?! Essa noção moderna de autor tem uma raiz teológica muito problemática: vem da imagem de um Deus que teria criado o mundo ex nihilo. O problema é que do nada nada vem! Mas se a gente vai a fundo nessa história do Salomão, acaba chegando não apenas na morte do autor em sentido moderno, mas na morte do próprio “indivíduo” pensado como entidade autônoma, com um domínio pleno sobre os seus pensamentos, pulsões, afetos…
CRÍTICX: “O ego não é mais o senhor dentro da sua própria casa”, disse o velho Sigmund… Mas quais são, no teu trabalho, as consequências dessa descoberta?
ARTISTA: Acho que o meu trabalho como um todo brota daí. Se faço teatro, é porque acho que essa arte, com toda a sua precariedade, é a mais coletiva de todas. Nos meus processos, eu também nunca sou o senhor dentro da minha casa, ou sala de ensaio. Muito pelo contrário! O meu ideal é sempre chegar em um ponto no qual a gente simplesmente não sabe mais de quem foi a ideia, quem viu primeiro, como ela surgiu. Adoro quando as ideias parecem ser de todos. E de ninguém.
CRÍTICX: Foi por isso que você decidiu montar O imortal, do Borges?
ARTISTA: Acho que foi mais o contrário. Montando esse conto é que ganhei clareza sobre o que me interessa mais no meu trabalho. Nunca ninguém tinha dito tão bem. Deixa eu te contar o enredo pra você entender o que eu quero dizer. O imortal é a história, contada em primeira pessoa, de um tribuno militar romano que se torna imortal depois de encontrar um rio cujas águas dão a imortalidade. Ocorre que, quando ele vira imortal, ao contrário do que prometem todas as religiões, ele percebe que, para um imortal, nenhum acontecimento tem nenhuma importância, sentido, valor, já que, num período infinito, tudo acaba acontecendo de qualquer jeito: todos os livros acabam sendo escritos, todo prazer e toda dor tendem a um equilíbrio… Para um imortal, todos os eventos se tornam absolutamente indiferentes. Por isso que o Homero desaprendeu a falar e esqueceu inclusive que tinha criado aquele poema tão célebre… Então o narrador resolve encontrar o rio que o curaria de sua imortalidade e, no final, consegue. Uns mil e quinhentos anos depois, ele vira mortal de novo. E é só depois que consegue voltar a ser mortal que ele conta a sua história…
CRÍTICX: Bonita essa relação entre a consciência do próprio fim e a necessidade de contar histórias…
ARTISTA: Ao reler o que ele próprio havia escrito, porém, o cavaleiro descobre uma série de inconsistências no seu relato. Percebe que a sua história, aparentemente tão nova, que as suas palavras, pretensamente originais, eram na verdade o eco de palavras de outros, muitos outros: Homero, que ele já conhecia antes de conhecer, Francis Bacon, Platão, Plínio, de Quincey etc. E conclui: “Palavras, palavras, deslocadas e mutiladas, palavras de outros, foi a pobre esmola que me deixaram as horas e os séculos”.
CRÍTICX: A filosofia da linguagem do Borges põe em xeque a noção moderna de sujeito como um “eu coerente” e, por extensão, a noção clássica de “autor” como um “criador original”. Se não há nada de novo sob o sol, se toda “nova” obra deve ser lida como um palimpsesto que traz as marcas de obras anteriores, a categoria da “novidade” perde inteiramente o seu sentido e consequentemente o seu alcance crítico. Não sei se o Borges leu Oswald de Andrade, mas pelo visto o manifesto antropofágico está todo na obra dele também…
ARTISTA: Com certeza. Nas obras do argentino Borges, do brasileiro Oswald, do grande poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz, que fala da modernidade como uma “tradição da ruptura”, a novidade aparece como aquilo que é: uma categoria mercantil inadequada para se pensarem as formas contemporâneas de autoria.
CRÍTICX: E que novas categorias a gente poderia propor? Me parece inegável que o nosso tempo marca definitivamente o fim das dicotomias estanques, como aquela que opõe novo a velho, moderno a antigo, ciência a poesia, razão a loucura. Essas oposições pressupõem não apenas uma única grande narrativa, a história da arte como história da arte europeia. É pior. Elas pressupõem também um ideal de pureza que está na base de boa parte dos problemas políticos contemporâneos. Neste sentido, acho que o pensamento estético pode e deve sim assumir o seu caráter inescapavelmente político.
ARTISTA: O teatro de hoje, a meu ver, pode ser vanguarda na política porque não apenas “tolera” a mistura, a mestiçagem, as diferenças, mas depende essencialmente delas.
CRÍTICX: Me dá arrepio quando ouço alguém falar em “tolerância”…
ARTISTA: O bonito hoje em dia é que temos à nossa disposição, simultaneamente, procedimentos inventados nos tempos e lugares mais distintos. Não importa mais de onde eles vêm, se são novos ou velhos, se têm pedigree ou não, se são alta ou baixa cultura, se são dramáticos ou pós-dramáticos… Para mim, tudo depende do modo como manejamos essa radical heterogeneidade.
CRÍTICO: Por isso é que, das modas recentes, uma das que acho mais bizarras é essa de pensar o pós-dramático como um momento “mais evoluído” na história do teatro, segundo uma concepção teleológica francamente insustentável. Ainda mais se eu penso em termos de Brasil… Na verdade, eu acho engraçado quando as pessoas falam em teatro pós-dramático no Brasil como se isso fizesse algum sentido. Toda essa crise do drama no teatro alemão… Nós não participamos disso. O drama só foi cânone para um grupo muito restrito e por um curto período. José de Anchieta, o padre que veio pro Brasil converter e catequizar os índios no século XVI, fez as peças mais pós-dramáticas/ performativas de que eu já ouvi falar. Antes de Shakespeare.
ARTISTA: Um banquete para os estudos da performance.
CRÍTICO: Macário, de Álvares de Azevedo, 1852: muito pós-dramático.
ARTISTA: Um amigo do México que é dramaturgo e diretor uma vez disse uma coisa fascinante. Ele dá aula de dramaturgia pra turmas jovens. Ele percebeu que os alunos nunca escrevem peças dramáticas, a não ser que alguém dê essa orientação, especificamente, com relação ao gênero. O teatro que eles têm em mente não é dramático, então não faz nenhum sentido ficar falando em pós-dramático.
CRÍTICX: Mas e os espectadores? Como é que podemos pensar em novidade tendo em vista o espectador? O que é novo pra quem?
ARTISTA: A nossa relação com os espectadores também depende da narrativa que construímos com eles. Festivais, jornais, mídias alternativas, propaganda, crítica: tudo o que publicamos e tudo o que encenamos pode contribuir pra construção de uma narrativa. Mas “o” público é algo impossível de se definir. Porque o público como coletivo coerente não existe, só existem espectadores individuais, e cada um cria a sua narrativa. Então como é que alguém pode decidir o que é novo e o que é velho?
CRÍTICX: Quando nós – pesquisadores, críticos, curadores e artistas – dizemos que alguma coisa é nova ou quando dizemos que alguma coisa é velha, a quem nos dirigimos? Estamos falando sozinhos? Se tomarmos essa ideia de uma grande narrativa, “a” história do teatro, história do “teatro global”, então me parece que o apelo à novidade é um tipo de obediência. Você tem que ser obediente à narrativa se você quiser fazer parte dela. Pra determinar se alguma coisa é nova, tem que existir um consenso cultural, uma situação criada, cultivada. Um consenso é uma combinação artificial, feita por um grupo restrito de pessoas, mas que deve parecer natural. Embora se espere que a novidade na arte seja um valor de criatividade, de invenção, ela também pode ser uma forma de dar continuidade à narrativa predominante, uma engenhosidade para satisfazer uma demanda exterior.
ARTISTA: É claro. Você pode relacionar novidade com a ideia de gênio, como uma criação sem precedentes, algo único. Mas também pode ser uma estratégia calculada, quase científica, pra se encaixar como a mais nova novidade em um determinado contexto. Nós precisamos prestar atenção em como esses sistemas se alimentam da ideia de novidade. Fazia sentido no início do século XX, mas agora a questão mesmo é o capitalismo. Esse ritmo descartável… É um encurtamento da vida. Se você tá sempre atrás de uma coisa nova, você perde a experiência. Esse tipo de relação com a arte é perversa. Isso salga a terra. Eu sempre falo sobre isso nos ensaios. Eu vou ao teatro e percebo que existe um pacto de ausência. Ninguém está presente de fato, embora a situação tenha a aparência de um encontro. Eu decidi me tornar um dramaturgo porque eu senti a necessidade de criar estratégias, estratégias dramatúrgicas, pra quebrar esse pacto de ausência, que é uma coisa muito sólida. A ânsia pela novidade é um sintoma de uma doença séria que está nos devorando por dentro. Essa doença é a apatia, a surdez, a tendência a achar que nada é com você. A sensação de que você está de fora. É não assumir a dimensão pública das coisas – sobretudo da arte e do teatro. A gente não pode ceder diante disso.
CRÍTICX: Quando há pouco você falou sobre o manejo de procedimentos heterogêneos, fiquei pensando que esse manejo é um gesto mais político do que propriamente artístico. Na arte deste começo de século XXI, não há nada mais desgastado do que pretender ser “de vanguarda”. Mas acho que na política a palavra “novidade” ainda pode fazer algum sentido. Novas estratégias de resistência, é disso que a gente precisa neste tempo de uma crise radical da democracia representativa. E não falo apenas do Brasil. Por isso, na leitura que faço dos trabalhos que vejo, é muito importante pensar no modo como cada artista e cada obra se insere nas relações artísticas de produção. Acho fundamental investigar, para além das velhas dicotomias forma-conteúdo, progressista-reacionário, novo-velho, se os trabalhos fazem as instituições se redesenharem (os teatros, museus, festivais, galerias, escolas, universidades…) ou se eles se encaixam confortavelmente e alimentam a coreografia dada.
ARTISTA: Isso não é Walter Benjamin?
CRÍTICX: Toda vez que eu digo palavras de Walter Benjamin, eu sou Walter Benjamin, Benjamin vive em mim…
ARTISTA: Isso não é Borges?
Daniele Avila Small é doutoranda em Artes Cênicas pela UNIRIO. Autora do livro O crítico ignorante – uma negociação teórica meio complicada (7Letras, 2015) e da peça Garras curvas e um canto sedutor (Cobogó, 2015). Integra o coletivo carioca Complexo Duplo e a DocumentaCena – Platafoma de Crítica.
Patrick Pessoa é professor do Departamento de Filosofia da UFF, crítico e dramaturgo.
SMALL, Daniele Avila. PESSOA, Patrick. “A novidade como conceito eurocêntrico” In Questão de Crítica. Vol. IX nº 68 outubro a dezembro de 2016.